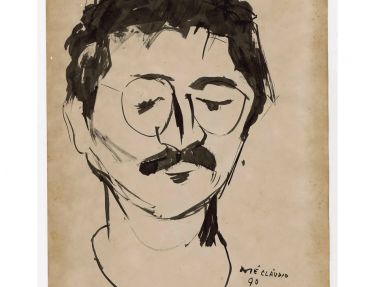Brasil: Eternamente redescoberto
Descobrimento do país concorreu para influenciar novas ideias, que se reverberaram num dos mais cruciais episódios políticos mundiais, como aponta livro de Afonso Arinos
TEXTO Gilson Oliveira
01 de Abril de 2013

O fantástico medieval relacionado a seres que habitavam os mares foi imputado ao Novo Mundo
Imagem Reprodução
Zumbi, cuja data de morte, 20 de novembro, se comemora o Dia da Consciência Negra, mandava capturar escravos de fazendas vizinhas para que eles trabalhassem forçados no Quilombo dos Palmares; a feijoada, tida como um dos mais típicos pratos da culinária brasileira, é, na verdade, de origem europeia, até porque, como diz o folclorista Luiz da Câmara Cascudo, os escravos – aos quais se atribui sua invenção – não gostavam de misturar feijão com carnes...
Essas são apenas algumas das muitas e polêmicas afirmações contidas no livro Guia politicamente incorreto da História do Brasil, de Leandro Narloch, publicado pela editora Leya e um dos mais bem-sucedidos exemplos recentes do chamado “revisionismo histórico”, que tem como objetivo reinterpretar aspectos da chamada “história oficial”. A qual, segundo essa corrente, é caracterizada pela parcialidade e mistificação dos fatos. “A História é uma história”, já dizia Millôr Fernandes.
Um estudo que pode ser considerado dos mais antigos, originais e ousados projetos revisionistas já empreendidos no Brasil é O índio brasileiro e a Revolução Francesa – as origens brasileiras da teoria da bondade natural, de Afonso Arinos de Melo Franco, lançado em 1937 e reeditado em 1976 e 2000 – essa última edição pela Topbooks, ensejada pelas comemorações dos 500 anos do Descobrimento (termo condenado pelos revisionistas, por expressar uma visão exclusivamente europeia e desconsiderar que, há séculos, a terra era habitada por vários povos indígenas).
Hoje um pouco esquecido como escritor, mas lembrado como o senador que transformou a discriminação racial em crime – através da “Lei Afonso Arinos” –, o autor, como diz o próprio título da obra, se propõe a fazer um revisionismo em escala universal, creditando aos nossos indígenas grande influência naquele episódio que, com o lema “Liberdade, Igualdade e Fraternidade”, mudou radicalmente o curso histórico da humanidade em suas dimensões políticas, econômicas, sociais e culturais.
Livro de história ou de ficção? Historiadores eminentes, José Murilo de Carvalho e Alberto Venancio Filho não têm a mínima dúvida: para o primeiro, a obra “é erudita, original e brilhante análise do impacto da imagem do índio brasileiro no imaginário, na literatura e no pensamento europeu dos séculos XVI, XVII e XVIII. (...) Índio fazendo europeu se repensar”; já o segundo afirma que o livro é uma “contribuição singular da cultura brasileira para a história universal das ideias”.
MONSTROS & CIA
Embora não seja ficcional, a obra começa falando dos monstros que habitavam o Brasil no início do século 16. Homens sem cabeça e com os olhos nos ombros, seres que tinham os pés voltados para trás e dotados de oito dedos, gigantes ferozes... “Sejam quais forem as causas do fenômeno, inegável é que para o Brasil convergiram os mitos dos homens monstruosos”, observa Afonso Arinos, acrescentando: “A mitologia, tão ao sabor do espírito imaginativo, ingênuo e misterioso da Idade Média, encontrava, enfim, a sua pátria de eleição. (...) saíam (os monstros) das páginas dos ‘bestiários’ da Idade Média e vinham compor a zoologia fantástica do Brasil”.
Xilogravura de Jean de Léry, cuja obra influenciou
de Thomas Morus a Jean-Jacques Rousseau.
Imagem: Reprodução
De todos os mitos importados, o que exerceu mais influência em terras brasileiras foi o das Amazonas, mulheres guerreiras originárias da mitologia da Grécia Antiga, que terminaram batizando um rio e uma região do norte do país. Essas figuras belicosas, cujo nome, em grego, significa “sem seio” – porque retirariam uma dessas partes do corpo para melhor usarem o arco e a flecha – chegaram tão fortemente ao Brasil que, como muitos outros exploradores, o espanhol Francisco de Orellana disse ter lutado com elas na hoje Floresta Amazônica.
Os principais responsáveis por essas imagens do país entre os europeus foram os primeiros viajantes e cronistas que o visitaram e se tornaram autores de relatos fantásticos, provocando profundo eco entre os habitantes do Velho Mundo. Alguns livros viraram verdadeiros best-sellers internacionais, com edições e traduções para diversas línguas. Uma obra célebre inspirada nesses diários dos viajantes é Robinson Crusoe, de Daniel Defoe.
Na verdade, filhos da mesma época e ambiente cultural, muitos navegantes acreditavam que o que escreviam era fruto de experiências concretas. “O ilustre português Dom Francisco Manuel de Melo” – diz Arinos – “dá bem a medida desse estado de espírito dos navegantes lusos, quando relata o descobrimento da Ilha da Madeira, na África, em meados do século 15, durante a qual os portugueses estavam tão preparados para se defrontarem com duendes e fantasmas, que, ao virem a terra, viram também, por entre a bruma, ‘gigantes armados, de temerosíssima grandeza’”. Só bem depois perceberam tratar-se de grandes rochas que avançavam pelo mar.
O BOM SELVAGEM
Da mesma forma que importou monstrengos para todos os gostos, o Descobrimento trouxe para morar no Brasil seres por demais felizes, que viviam numa espécie de Idade do Ouro, período em que, segundo a mitologia grega e também as tradições religiosas do Oriente, a humanidade estava no início de sua existência e, por viver conforme as leis da natureza, levava uma vida de características utópicas, desfrutando de total paz, harmonia e prosperidade. Quem eram esses seres? Ora, os nossos índios... Foi assim que os europeus, ainda no século 16, passaram a vê-los.
A “culpa”, mais uma vez, era dos cronistas-viajantes, entre os quais devem ser incluídos Pero Vaz de Caminha e Américo Vespúcio, que transformaram o índio num eloquente exemplo de que o “bom selvagem” ainda existia, e nas terras recém-descobertas. “A questão para os viajantes não era tanto de descrever com exatidão os hábitos e costumes dos selvagens, mas de observar o quanto esses hábitos e costumes eram diferentes dos europeus e o quanto eles eram mais sábios e mais venturosos”. Com os anos, essa visão empolgaria até figuras como Michel Montaigne e Jean-Jacques Rousseau, dois dos mais influentes pensadores modernos.
Tese do “bom selvagem” está na essência das obras do filósofo
Jean-Jacques Rousseau. Imagem: Reprodução
O pano de fundo ideológico dessa imagem idealizada dos índios brasileiros, ressalta Arinos, é o Renascimento, “que desencadeou uma luta pela afirmação do homem, pela emancipação do indivíduo da tutela temporal do Estado e espiritual da Igreja. (...) Não é, portanto, de se admirar que a imaginação dos homens daquele tempo, sujeitos a essas contingências e restrições eternas, se escaldasse ao pensar que havia homens libertos de semelhantes freios. Não tardou, assim, que uma falsa concepção de estado natural se apoderasse da Europa”.
Nesse contexto, a tese do “bom selvagem” era estrategicamente importante, até por servir de contraponto às ideias de Thomas Hobbes, um dos ideólogos do absolutismo monárquico, regime que concentrava todos os poderes nas mãos do rei. Para o autor de Leviatã, o ser humano é naturalmente mau e, por isso, para que seja viável a vida em sociedade, é necessário um sistema de forças que controlem o seu instinto perverso. “O homem é o lobo do homem”, diz ele em uma de suas mais famosas frases, inspirada num trecho da Bíblia. Na contramão dessas teorias, fortaleceu-se a da “bondade natural” – fermentada pela sedutora ideia de comunismo primitivo.
O cronista português Pero de Magalhães Gândavo foi um dos que chamaram atenção para a inexistência de propriedade privada entre nossos indígenas: “Em cada casa, eles vivem juntos, em harmonia. São de tal modo amigos uns dos outros, que aquilo que pertence a um pertence a todos”. Profunda seria a repercussão de depoimentos como esse junto aos europeus, à época mergulhados em guerras religiosas responsáveis pelo assassinato de milhares de pessoas.
Mas, por que os olhos europeus se encantaram mais com os índios brasileiros, se em outros lugares da América havia povos bem mais evoluídos, como os maias, os astecas, os incas e os indígenas norte-americanos? Exatamente por isso: os nativos daqui eram totalmente primitivos, possuindo ainda um charme todo especial, que era o de, tanto homens quanto mulheres, viverem nus, estimulados pelo clima tropical. Essa nudez logo chegaria à poesia francesa, inspirando nomes como Pierre de Ronsard, que, em versos, disse: “nu de vestes tanto quanto é de malícia”.
MADE IN BRAZIL
Levados para a Europa desde antes de 1500 – “Colombo foi quem iniciou esse estranho turismo”, comenta Arinos –, como prova de que efetivamente existiam, como escravos e, no caso das mulheres, para atender a ardentes caprichos sexuais, os índios começaram a ser exportados, sobretudo para satisfazer a grande curiosidade europeia. Chegaram a superar, em termos de prestígio, até mesmo os macacos e papagaios, que também desfrutaram do maior ibope na Europa, sendo ostentados, inclusive, em salões reais.
Após assistir a uma exibição de índios brasileiros, Montaigne passou
a exaltar o espírito de igualdade deles. Imagem: Reprodução
Os índios brasileiros conseguiram se inserir até na arquitetura da França, como demonstra a Igreja de San Jacques, em Dieppe, na qual um friso os representa em diversas atividades; na língua (e não só na francesa), tendo o historiador Paul Gaffarel registrado a incorporação de palavras como tapioca e caju; e até na moda de um país que, séculos depois, começaria a ditar as tendências nessa área. Nesse sentido, existe um depoimento do padre e cronista Jean de Léry, do século 16, de que um penteado denominado raquette teria sido copiado, pelas mulheres francesas, das índias brasileiras.
Dado importante sobre Léry é que ele, baseado nas vivências que teve no Rio de Janeiro – onde chegou integrando a expedição de Villegagnon, fundador da França Antártica –, escreveu um dos mais famosos relatos da época imediatamente posterior ao Descobrimento, História de uma viagem feita à terra do Brasil, que, segundo as pesquisas de Arinos, teria, de forma direta e indireta, influenciado uma série de autores, de Thomas Morus a Rousseau – muitos dos quais teriam até transcrito trechos da obra.
Mas, voltando aos nossos índios, um dos momentos de maior glória que eles tiveram se deu em 1550, na francesa cidade de Rouen, quando protagonizaram um megaespetáculo montado para o rei Henrique II e sua comitiva. Para isso, instalou-se um cenário em que pudessem ser representadas cenas da vida do indígena, com as árvores existentes no local ornamentadas com frutos artificiais que lembrassem os brasileiros, saguis, papagaios e outros animais espalhados por vários pontos, tabas indígenas e, claro, índios e índias nus por tudo o quanto é lado (alguns, representados por atores franceses).
Exibindo como ponto alto um combate simulado entre tribos rivais, o show repercutiu tanto na França, que, quando os índios chegaram a Paris, a população ficou tão enlouquecida, que o rei teve de mandar tropa armada para acalmar a multidão. Mas o principal efeito da apresentação em Rouen talvez tenha se dado no espírito de Montaigne, uma das pessoas que a assistiram.
Tempos depois, o autor de Ensaios, demonstrando que a ideia de bom selvagem começava a ganhar perfil de doutrina política, passa a louvar os indígenas, por serem um povo que não faz uso da “servidão humana, da riqueza ou da pobreza”. Chega a afirmar que, em Rouen, uma das coisas que mais o marcaram foi saber que um índio, ao ser indagado sobre o que mais o impressionara na França, respondeu que fora ver algumas pessoas com muitos bens e outras sem nada. O selvagem ainda teria dito que, em situações assim, os miseráveis deveriam pegar os ricos pelo pescoço e botar fogo em suas casas. Para muitos, o escritor estava colocando palavras suas na boca do indígena...
Na peça A tempestade, Shakespeare contesta a tese do “bom selvagem” na figura de Calibã. Imagem: Reprodução
UTOPIAS NORTEIAM
“Apaixonados leitores dos livros de viagens, e o confessam em suas obras.” É assim que Arinos define os grandes autores do século 16, como o próprio Montaigne, Erasmo de Rotterdan, Thomas Morus e François Rabelais, que, impossibilitados de criticar abertamente as injustiças do seu tempo, por causa da severa vigilância da Igreja e do Estado, “começaram a fazer insidiosas descrições de comunidades ideais, que viviam num verdadeiro reino de venturas, exatamente porque adotavam e praticavam instituições que eram opostas às vigentes nos países civilizados da Europa”.
Um dos mais famosos exemplos desse tipo de obra é Utopia, de Morus, que concorreria até para o surgimento de um gênero literário – a literatura utópica. Considerado por Arinos um dos “mais terríveis libelos revolucionários do século 16, influenciando até na formação da mentalidade que precedeu à Revolução Francesa” (como demonstra o “prefácio subversivo” de uma edição publicada em 1789, ano do episódio), o livro teria sido influenciado, na parte geográfica, pelas cartas de Américo Vespúcio. Comparando uma série de informações, Arinos chega a uma surpreendente conclusão: a ilha onde Morus instalou seu mundo utópico foi inspirada em Fernando de Noronha(!).
Claro que também surgiram potentes vozes totalmente contrárias à tese do “bom selvagem”, como William Shakespeare, que aproveita a peça A tempestade – ambientada em uma ilha onde foram parar vários náufragos – para propagar que os selvagens eram maus por natureza. Visando dar “sustança” à sua opinião, Shakespeare coloca na obra a figura de Calibã, que seria uma variação de Canibal, espécie de demônio que habita a ilha (por coincidência ou não, no século 16, o Brasil foi chamado também de “Terra dos Canibais”).
Outro grande adversário da tese era Voltaire, autor de Cândido ou o otimismo (obra na qual Arinos identifica várias paisagens, plantas e animais típicos das terras brasileiras), que usou sua cáustica irreverência para desancá-la, talvez por constituir uma das bases teóricas do seu grande rival, Rousseau. Analisando os livros do “filósofo de Genebra”, Voltaire saiu-se com tiradas do tipo: “Ninguém pôs tanto engenho em querer nos converter em animais. Ao ler suas obras, dá vontade de andar sobre quatro patas”.
A despeito das gargalhadas voltairianas, livros como O contrato social e Discurso sobre a desigualdade se incorporaram às mensagens dos revolucionários. Incontestável demonstração histórica é que, vitoriosa a Revolução Francesa, o corpo de Rousseau – falecido em 1778,onze anos antes da eclosão dos combates – foi trasladado para o Panthéon, monumento no qual estão guardados os restos mortais de alguns dos maiores heróis da França e da humanidade. ![]()
GILSON OLIVEIRA, jornalista e revisor do jornal literário Pernambuco.