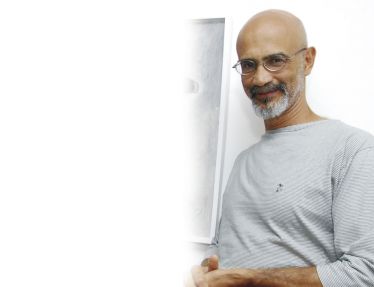

Imagem Reprodução
Me dá certa inveja, ao sair de casa, ver, no que poderia ser uma praça, os impávidos e incólumes pés de jurubeba no seu viço e inocência, na sua tranquilidade do existir, de quem não vê o tempo passar. De vez em quando a prefeitura manda roçar o mato, jurubebas, carrapateiras, rabos-de-tatu, outro mato, esguio, flor branca e roxa de pétalas recurvadas, de cuja raiz se faz lambedor, muçambê, outra plantinha rasteira de linda flor branco-amarelada de miolo roxo que bota umas bolotas muito apreciadas pelos galos-de-campina, ocorrendo o mesmo com suas pétalas que somente permanecem abertas no sol e se fecham na sombra mesmo dia claro, basta uma nuvem, muito apreciadas, as pétalas, pelos sanhaçus, xanã é seu nome, quebra-pedra, vassourinha-de-botão com que minha avó Mãe Joquinha nos benzia em Ipojuca tempo de menino, bredo-de-espinho, até pé de jerimum, cuja flor só vi uma pessoa comer, o pintor Giuseppe Baccaro, ao natural. De vez em quando roçam tudo, quando virando uma mata, dá para esconder bandido, e outrem, como tem ocorrido: um meu vizinho viu, e tem testemunha, um casal no amplexo, se é que se pode chamar, “na posição que Napoleão perdeu a guerra”.
Há uma espécie de anêmona-do-mar que morre e ressuscita, recomeça do zero. Não sei se invejo tal destino. Não sei se, depois de algumas passagens pelo mundo, não nos batesse o cansaço; ou talvez valesse a pena reviver alguns momentos, embora sem o ineditismo: mas quem me garante não surgiriam novidades, sabendo-se que a vida é mais rica que nossa imaginação?
Invejo as telas em branco que me olham dos recantos do atelier e sei que sempre haverá algumas que me sobreviverão, na sua inteireza material, limpa de sonhos. Elas me olham eretas como a apresentar armas, prontas para o destino que nem eu nem elas ainda sabemos qual, em parte, como as “filhas do Sol” no Império Inca ou as futuras esposas do faraó, as virgens nos haréns à espera da convocação ou, como rês, do abate: sempre tenho telas à minha espera; natural que, quando eu morrer, algumas permaneçam intactas, quem sabe olhando para meu caixão ou para mim dentro dele, eu pensando nelas, como aquele vidraceiro ambulante do filme de Cocteau que em pleno outro mundo andava com uma ruma de lâminas de vidro nas costas apregoando “Vitrier! Vitrier!”, não tendo ainda “caído a ficha”, durante algum tempo depois de ter morrido. E não somente as telas mas as portas, as janelas, os vidros da janela, as paredes, o piso de Brennand, as telhas que comprei na demolição da Maternidade Barão de Lucena assim como pias e alguns vasos sanitários, os caibros de maçaranduba, esta cadeira de plástico onde estou sentado: todos esses objetos já estão num estado muito avançado em relação a nós viventes angustiados entre a vida e a morte.
Me vem que essas telas em branco servirão ao meu filho Mané, também pintor, ou à neta Juliana, que gosta de pintar, como se eles, pintando nelas, me devolvessem à vida, igual àquela anêmona-do-mar, assim como, pintando, trago à vida os pintores que vieram antes, desde os rupestres. Enfim, que essas telas não me deixarão tão abruptamente. Mas voltando às jurubebas, a se deliciarem, no tempo sem fim em que se inserem, sorvendo-o através de seu corpo formado de espinhos e folhas e talos e flores e frutos, o tempo perene sem noção de cronologia, ausentes de uma vida em si, valendo, sei lá, a da espécie, a do mundo todo, esse feliz não-existir, situação que imagino ter provado recentemente durante frações de segundo. Eu ia num táxi, no banco da frente ao lado do motorista. Sempre ando no “lugar do morto”. Tinha saído de casa. No meio da manhã. Fazer as coisas de sempre, tirar dinheiro, comprar lona, brocha de cobre, bucha para limpar pincéis, algum pagamento, a rotina. Ia pela Rua Luiz de Carvalho, Olinda, o caminho normal, no sentido mar, para pegar a Getúlio Vargas. Sol limpo, céu azul, nesga de nuvem, e tive essa, digamos, revelação. De que não existia nem céu azul, nem aquela nesga de nuvem, nem o calçamento ou asfalto onde o carro andava, nem o carro, nem eu no carro nem indo para canto nenhum. E que nada existia. Nem nunca existiu. E isso dava, pelo contrário, uma total plenitude, sendo eu o universo inteiro em todas as suas mínimas vibrações as mais longínquas de todo o sempre. ![]()
JOSÉ CLÁUDIO, artista plástico.






