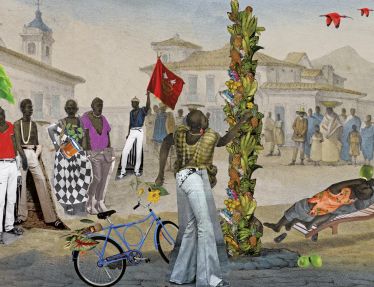Clarice, essa eterna esfinge
Nascida há 100 anos e falecida há 43, escritora criou uma obra de atualidade permanente
TEXTO Jurandy Valença
05 de Novembro de 2020

A obra de Clarice fugia do enquadramento em gêneros literários estanques, em muitas de suas narrativas tudo se mistura, se embaralha
Foto Arquivo/Estadão Conteúdo
[conteúdo na íntegra | ed. 239 | novembro de 2020]
contribua com o jornalismo de qualidade
A lembrança mais antiga que temos de Clarice Lispector é de quando ela, junto à família, chega ao Brasil em 1922, um ano emblemático na literatura mundial. Ano no qual foram publicadas obras fundamentais como Ulisses, de James Joyce; O castelo, de Franz Kafka; Sidarta, de Hermann Hesse; o poema A terra inútil, de T.S.Eliot; O quarto de Jacob, de Virginia Woolf; o Tratado lógico-filosófico, de Ludwig Wittgenstein; Pauliceia desvairada, de Mário de Andrade. Também o ano da Semana de Arte Moderna no Brasil. Clarice aportou em Maceió, onde sua família adotou nomes brasileiros. Foi lá que a judia ucraniana Chaya Pinkhasovna Lispector se tornou Clarice Lispector.
Ícone da literatura brasileira, sua obra abriga uma abundância de personagens femininos, como se fossem a própria Clarice multifacetada. Parafraseando o poeta norte-americano Walt Whitman, ela não era uma só, ela continha uma multidão. Almira, Ana, Beatriz, Cândida, Carmem, Chaya, Clarice, GH, Janair, Joana, Laura, Lídia, Lisette, Lucrécia, Macabéa, Maria Angélica, Maria das Dores, Ofélia, Sofia e tantas outras mulheres. Cada uma delas um alter ego, “um outro eu” de Clarice. Mas nela também cabiam Teresa Quadros e Helen Palmer, ambas pseudônimos usados – respectivamente – para as colunas femininas que assinava na revista Comício e no jornal Correio da Manhã. Não obstante sendo tantas outras e apenas Clarice, em 1960 ela também se tornou ghost writer de Ilka Soares, uma atriz belíssima que tinha sido escolhida em 1958 para acompanhar o astro internacional de cinema Rock Hudson – que era gay – no baile de carnaval do Teatro Municipal.
É clichê perguntar: que grande mistério é essa mulher? Se Clarice estivesse viva, completaria 100 anos no próximo 10 de dezembro. Sua presença e relevância na literatura brasileira são tamanhas, que seu nome muitas vezes dispensa o sobrenome. Basta falar Clarice, e todo mundo sabe de quem estamos falando.
Manuscrito de A hora da estrela. Imagem: Reprodução
FALAR SEM FALAR
Foi em 1933, aos 13 anos de idade, que, segundo seu biógrafo Benjamin Moser, Clarice resolve tornar-se escritora. Três autores deixaram uma profunda impressão na sua adolescência, Dostoiévski, Hermann Hesse e Katherine Mansfield, respectivamente com os livros Crime e castigo, O lobo da estepe e Felicidade. Já adulta e conhecida, ela fazia questão de dizer que não era uma intelectual, que não lia muito, embora tenha sido leitora de Sartre, Rilke, Proust, Virginia Woolf, Flaubert, Kafka e Emily Brontë, entre outros.
A obra de Clarice fugia do enquadramento em gêneros literários estanques, em muitas de suas narrativas tudo se mistura, se embaralha. Nas suas últimas obras, sua forma de ficcionalizar reforça o que ela mesma dizia: “Quero falar sem falar, se é possível”. Um exemplo claro dessa qualidade plural de sua literatura são suas mais de 450 crônicas publicadas no Jornal do Brasil entre 1967 e 1973, que integram o volume Todas as crônicas (Rocco, 2018), organizado por Pedro Karp Vasquez, com pesquisa de Larissa Vaz, ambos também responsáveis pela organização de sua correspondência em Todas as cartas (Rocco, 2020). A crônica, com sua proposta de abordar o efêmero, o factual, como um flagrante do cotidiano – tantas vezes considerada um gênero “menor” na literatura –, nas mãos de Clarice ganha a mesma relevância de qualquer um de seus textos. Ela mesma dizia “gêneros não me interessam mais, interessa-me o mistério”.
Mistério tem sido um substantivo para definir a escritora. E uma das portas de acesso aos mistérios de Clarice é a sua correspondência pessoal, que já vinha sendo publicada e que ganha reforço neste ano de centenário com Todas as cartas. O livro reúne cerca de 300 correspondências escritas ao longo de sua vida, das quais muitas chegam pela primeira vez ao público, organizadas neste volume por décadas, dos anos 1940 a 1970. Entre os destinatários, estão colegas de ofício como João Cabral de Melo Neto, Rubem Braga, Lêdo Ivo, Otto Lara Resende, Paulo Mendes Campos, Nélida Piñon, Lygia Fagundes Telles e Mário de Andrade.
Através desse conteúdo íntimo e sem intenções literárias, nós, leitores, podemos adentrar o universo pessoal da autora, encontrar pistas para os enigmas espalhados em seus livros, percebendo também a relevância desses escritos junto aos seus romances, contos e crônicas. A publicação de cartas inéditas não só aguça a curiosidade em leitores e pesquisadores de sua obra, mas também lança luz às cartas já publicadas da escritora e a relação destas com sua obra literária, principalmente com seus romances, uma vez que, em muitas das correspondências que se tem conhecimento, Clarice comenta sobre a escrita de seus livros, bem como convoca seus interlocutores a ajudá-la nesse processo.
Edições comemorativas estão sendo lançadas em torno
do centenário da escritora
Clarice era muito bem-relacionada e – embora evitasse o convívio social e o acesso à “massa de sensações” que o mundo exterior abriga – conviveu com a nata da intelectualidade brasileira da época, desde seu amigo próximo e interlocutor frequente Lúcio Cardoso até Nelson Rodrigues, passando por Paulo Francis, Burle Marx, Cecília Meireles e Erico Verissimo, entre muitas outras personalidades do jornalismo e da literatura nacional.
Um relacionamento importante para a carreira internacional de sua obra aconteceu em 1962, quando ela conheceu a poeta norte-americana Elizabeth Bishop, que morava no Brasil desde 1951 e que traduziu contos seus para o inglês. No que diz respeito a trocas linguísticas, Clarice também foi tradutora, vertendo para o português obras canônicas como O retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde; Histórias extraordinárias, de Edgar Allan Poe; As viagens de Gulliver, de Jonathan Swift; e Tom Jones, de Henry Fielding; além de verter do inglês para o nosso idioma Jack London, Doris Lessing, novelas de Agatha Christie e Entrevista com um vampiro, de Anne Rice.
LAÇOS E AMARRAS
Bem-recebida no cenário literário com o romance Perto do coração selvagem (1943), foi com o livro Laços de família, de 1960, que ela consolidou sua reputação como escritora. Nele, percebemos a atualidade das personagens femininas, manifestando-se em corpos silenciados pela sociedade patriarcal. Nos contos desse livro, encontramos a família da classe média, composta pelo pai/marido/provedor, os filhos e a mãe, a “rainha do lar”, a mulher limitada a ser a dona de casa, papel “naturalmente” feminino, de acordo com os padrões da época. Apesar disso, suas personagens apresentam a “necessidade de sentir a raiz firme das coisas”.
No conto Amor, por exemplo, Ana é atravessada por “sua corrente de vida”, e há nela a “exaltação perturbada que tantas vezes se confundira com felicidade insuportável”. O cotidiano da personagem é interrompido quando, em um trajeto em um bonde, ela se depara com um cego mascando um chiclete e isso desencadeia uma ruptura, pois “os dias que ela forjara haviam-se rompido na crosta e a água escapava”. Em outro, Preciosidade, a autora insinua que a personagem, uma estudante de 15 anos, voltando para sua casa, sofre um assédio. Há 60 anos, Clarice já tratava de temáticas relacionadas à ameaça que ainda hoje ronda as mulheres.
Como bem lembra Marise Hansen, em um artigo sobre as relações entre o livro de Clarice e o de Carolina Maria de Jesus, Quarto de despejo, os “laços” do título abrigam diversos significados e podem se relacionar à limitação, união, ao adorno, às amarras, e aponta que, “na sua etimologia, a palavra tem relação com laço para caça (laqueus), o que remete à cilada, armadilha”, além de representar os vínculos familiares.
Na década de 1950, as escritoras viviam cotidianos opostos. Enquanto Clarice, mulher branca de classe média, vivia um tipo de angústia do exílio quando morava em Washington com seu marido diplomata, Carolina, mulher negra e pobre, habitava um barracão, sofrendo um outro tipo de exílio, o da exclusão social. Mas seus caminhos viriam a se cruzar em 1960, há exatos 60 anos, quando foram lançados – respectivamente – Laços de família e Quarto de despejo. Uma coincidência é que ambas faleceram no mesmo ano, 1977.
DESCER AO INFERNO: G.H.
Em 1964, na ditadura militar, Clarice publica uma de suas obras magistrais, o livro A paixão segundo G.H., seu primeiro romance escrito em primeira pessoa. O livro retoma um eixo narrativo recorrente na sua obra, engendrando a história de uma dona de casa com uma vida previsível que, em meio às atividades domésticas cotidianas, depara-se subitamente com uma barata. O encontro ocorre no quarto de fundos – recém- desocupado pela empregada Janair – de seu apartamento de luxo.
O cotidiano organizado, a civilidade, as certezas tranquilizadoras e a suposta humanidade desmoronam paulatinamente, quando a personagem, em um gesto ritualístico, devora a barata morta, gesto que a leva a atravessar a si mesma e ao seu oposto, o mundo e o avesso do mundo, consciente da impossibilidade de narrar o que vivera, de tornar comunicável aquela “luta primária pela vida”.
No artigo A paixão segundo G.H. e o amor sem limite, a psicanalista Sonia Leite comenta sobre a experiência psicanalítica do livro, “produzindo no leitor a experiência de destituição subjetiva similar àquela que acompanha a travessia da fantasia”. Sonia reforça o que o também psicanalista Marco Antonio Coutinho Jorge ressaltou assertivamente ao apontar que a leitura de Clarice Lispector provoca a experiência do despertar, fazendo com que o leitor desperte da fantasia e vá de encontro ao real.
É como se o sujeito se esvaziasse, lembrando a operação descrita por Lacan como o “des-ser”. Uma experiência limítrofe na qual G.H. se encontra com o inominável, com algo que está além e aquém da realidade, e na qual a escritora revela sua capacidade de revirar com a linguagem lugares da subjetividade, da psique, tornando palpável o abstrato, o inaudito. No Seminário 11, Lacan fala de suas experiências de análise, elegendo como temática o amor no nível do que denomina “um mais além”, no qual ocorre a experiência da renúncia, do desligamento em relação aos objetos. Curiosamente, a primeira edição de A paixão segundo G.H. é de 1964, mesmo ano do referido seminário.
Em seu gesto de devorar a barata, G.H. inicia um desmoronamento de tudo aquilo a que sempre estivera habituada. Num processo de desmontagem, a personagem percebe subitamente, em uma epifania, a “construção difícil que é viver”. G.H. convida o leitor a acompanhá-la nesse movimento de descida aos infernos. Uma descida ao “inferno de vida crua”, com o medo de quem sabe estar “indo em direção não da loucura, mas de uma verdade”.
Nessa obra, Clarice realiza um “deslizamento de fora para dentro”, como disse Georges Bataille acerca de William Blake. E ecoa a derrelição e as palavras de Hillé, personagem da obra-prima de uma contemporânea sua, a paulista Hilda Hilst, em A obscena senhora D, publicado quase 20 anos depois. “Vi-me afastada do centro de alguma coisa que não sei dar nome (...) eu Nada, eu Nome de Ninguém, eu à procura da luz numa cegueira silenciosa (...) à procura do sentido das coisas. Derrelição Ehud me dizia, Derrelição – pela última vez, Hillé, Derrelição quer dizer desamparo, abandono, e porque me perguntas a cada dia e não reténs, daqui por diante te chamo A Senhora D. D de Derrelição, ouviu?”
G.H. e muitos outros personagens de Clarice isentam-se de si para se verem, se (re)conhecerem. A aparente inércia em que o cotidiano carrega consigo “momentos epifânicos de vazio”. “Tudo me atinge, vejo demais, ouço demais, tudo exige demais de mim.” Em sua obra, Clarice Lispector reverbera aquilo que Freud chamou de “sentimento oceânico”, descrito na obra-prima O mal-estar na civilização, publicada na década de 1920. A existência de um sentimento primário de algo ilimitado, sem fronteiras, que promove uma dilatação interior.
A PAIXÃO SEGUNDO C.L.
Dez anos depois da publicação do romance A paixão segundo G.H., Clarice promove outra dilatação, mais exterior do que interior. Ao ser lançado, em 1974, o livro de contos A via crucis do corpo causou enorme polêmica, ao abordar tabus como a prostituição, o estupro, o ménage à trois, o homossexualismo, o sexo na terceira idade; subvertendo a tênue linha que separa a “alta” da “baixa” literatura.
Clarice, que tentou assiná-lo com o pseudônimo Cláudio Lemos, sofria porque parte da crítica reagiu negativamente à obra escrita sob encomenda e cujo tema em comum com outros de seus contos é o sexo. Em um deles, a personagem Maria Angélica de Andrade, de 70 anos, escandaliza a todos quando decide ter um amante, Alexandre, de 19 anos. Em outro, Cândida Raposo, com seus 81 anos, procura um médico porque ainda sente muito o “desejo de prazer”. Nessa via crucis, suas personagens fazem do desejo, do sexo, a descoberta de si e do mundo. Clarice levantou o tapete que não mais ocultava a hipocrisia e o moralismo.
Um ano antes, em 1973, ela havia publicado Água viva (originalmente intitulada Objeto gritante, viemos a saber apenas na década de 1980), livro no qual explora mais do que nunca o cruzamento entre poesia e prosa, e que é considerado por muitos sua obra máxima. Com Água viva, a escritora atingiu o ápice da habilidade em narrar o alvoroço do mundo interior das suas personagens, revertendo esse desconforto em um alarido da linguagem. No mais banal e prosaico pode emergir o desconhecido, “o fim da hora instável”. Sua escrita opera como se fosse a moldura para a exploração e exposição de subjetividades, sensações, pensamentos filosóficos.
Foi apenas no seu último livro publicado em vida, A hora da estrela, que saiu pouco antes de sua morte, em 1977, que Clarice se voltou claramente à temática social, tendo como protagonista a nordestina Macabéa. Ela, uma mulher de poucos atrativos, está no Rio de Janeiro trabalhando como datilógrafa, em busca de uma vida melhor. Paradoxalmente, o que há de mais atraente na personagem é seu próprio desconhecimento sobre o amor, o mundo e, sobretudo, o de si mesma enquanto mulher.
Imagem da entrevista concedida pela escritora à TV Cultura, em fevereiro de 1977, e exibida após sua morte, em dezembro. Foto: Reprodução
No ensaio A hora do da estrela ou A hora do lixo de Clarice Lispector (2003), Ítalo Moriconi descreve a personagem como uma caricatura de um nordestino. “Pobres, excluídos, periféricos, seres provenientes de um Brasil arcaico em relação ao país surgido desde fins do século XIX.” Mas Macabéa é, sobretudo, a caracterização de uma pessoa que carrega dentro de si “o não reconhecimento social do nordestino e da mulher”. Quando se olha no espelho, percebe que sua vida é preenchida de ausências e que necessita se significar diante do olhar do outro.
Um sopro de vida – Pulsações, último romance de Clarice, foi escrito entre 1974 e 1977, e publicado postumamente em 1978. Nele, a autora explora mais ainda uma escrita que se equilibra entre o literário e o filosófico. Ao falecer em 1977, ela deixou alguns textos inacabados ou não revisados que haviam sido produzidos no final de sua vida. Dentre esses textos, estão os contos A bela e a fera e Um dia a menos, reunidos por sua amiga mais próxima em seus últimos anos de vida, Olga Borelli, e publicados em 1979.
DEUSA E BRUXA
Há muitas histórias peculiares sobre Clarice Lispector, e algumas delas revelam muito de sua personalidade e do quanto era admirada e cobiçada por homens notórios. Numa viagem ao Egito, ela conta que encarou a Esfinge. “Não a decifrei, mas ela também não me decifrou.” Quase três décadas após esse encontro, Clarice escreveu que estava pensando em fazer outra visita à Esfinge. “Vou ver quem devora quem”, havia escrito.
Em maio de 1945, ela posou para o pintor italiano Giorgio De Chirico, cujo retrato – junto à série de registros realizados em 1961 pela fotógrafa Claudia Andujar (a convite da então recém-criada revista Claudia) – revela a elegante esfinge que foi Clarice, como se tanto na pintura quanto nas fotografias dela emanasse, de fato, uma aura de mistério.
A ensaísta, dramaturga, poetisa e crítica literária francesa Hélène Cixous declarou que Clarice Lispector era o que Franz Kafka teria sido se fosse mulher. Ferreira Gullar disse que, ao vê-la, levou um choque. Carlos Drummond de Andrade escreveu, quando de sua morte, que ela “veio de um mistério, partiu para outro”. Fato é que seu humor era desconcertante. Um ano antes de sua morte, uma jornalista argentina, ao entrevistá-la, afirmou: “Dizem que a senhora é evasiva, difícil, que não gosta de conversar”. Ao que Clarice retrucou: “Obviamente, eles estão certos”.
Na biografia Clarice, (2009), Benjamin Moser conta que a escritora ficou mortificada quando a cantora Maria Bethânia se jogou aos seus pés quando a conheceu, exclamando “minha deusa!”. Mas, se era tímida, ela sabia também ser dura, quando necessário. Em um evento diplomático em Nova York, um convidado antissemita disse que era capaz de sentir o cheiro dos judeus quando eles estavam por perto. Clarice, sem titubear, encarando-o diretamente nos olhos, afirmou: “O senhor deve estar com um terrível resfriado então, já que não conseguiu sentir o meu cheiro e o da minha cunhada”.
Capa da primeira edição de A hora da estrela,
último livro que Clarice publica em vida
É famosa a participação da escritora, em 1975, no primeiro Congresso Mundial de Bruxaria, em Bogotá, na Colômbia. O fato foi narrado numa reportagem de Ignácio de Loyola Brandão, então jornalista e editor da extinta revista Planeta. Clarice foi a única brasileira convidada para o congresso, e o convite surgiu no ano anterior, durante um congresso literário sobre narrativa, também na Colômbia, na cidade de Cali.
Posteriormente indagada sobre o motivo desse convite incomum, ela disse que sua participação se deveu ao fato de um crítico ter dito que ela usava as palavras não como escritora, mas como bruxa. Ela pretendia falar no congresso sobre magia e ler um conto seu, mas, na hora da apresentação, desistiu da introdução – que seria um relato sobre coincidências inexplicáveis – e pediu que alguém lesse o insólito conto O ovo e a galinha, publicado em A legião estrangeira (1964) e Felicidade clandestina (1971).
Segundo amigos próximos, ela tinha várias superstições, como datilografar seus textos contando sete espaços entre os parágrafos, pois considerava o número 7 o seu número secreto e cabalístico. Foi na Suíça que deu início ao hábito da toda a vida de consultar cartomantes e astrólogos; e, na década de 1970, passou a ir mensalmente a uma cartomante no Bairro do Méier, zona norte do Rio de Janeiro.
Para quem conhece Clarice ou para quem ainda não teve a sorte de ler suas obras e adentrar o seu mistério, há na internet a primeira e única entrevista que a autora concedeu para a televisão. Trata-se de uma conversa repleta de silêncios, inesquecível. Foi gravada para o programa Panorama, da TV Cultura de São Paulo, em 1º de fevereiro de 1977, mesmo ano de seu falecimento, e em seus minutos finais é impressionante vê-la e ouvi-la responder ao jornalista Júlio Verner: “Bom, agora eu morri. Mas vamos ver se eu renasço de novo. Por enquanto eu estou morta. Estou falando do meu túmulo”.
A entrevista só foi ao ar após seu falecimento, no final de dezembro de 1977, cumprindo um pedido feito por ela. Ela faleceria em 9 de dezembro, na véspera de completar 57 anos, de câncer de ovário. O mundo perdeu aquela mulher misteriosa que, como ela falava de uma de suas personagens, “fazia mais sombra do que existia”. E que se foi ecoando uma frase essencial de Georges Bataille, “a literatura é o essencial, ou não é nada”. Para Clarice, era tudo.![]()
JURANDY VALENÇA, jornalista, curador, artista visual e gestor cultural, trabalha para instituições públicas e privadas e colabora para veículos de arte e cultura.