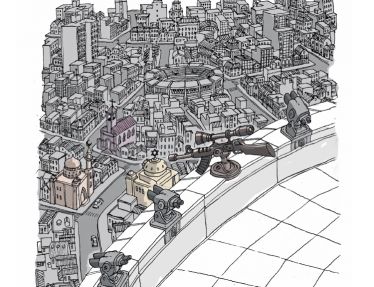

O desastre no Rio Doce, em Minas Gerais, causado pela empresa Samarco
Foto Reprodução
[conteúdo na íntegra (degustação) | ed. 206 | fevereiro 2018]
Fecho a última página do livro. Minha filha pergunta: “Essa lama toda foi o desastre, né?”. É assim que a memória dela gravou o tempo, em novembro de 2015, quando helicópteros passavam o dia sobrevoando a cidade, ambulâncias não paravam de chegar à policlínica local e ônibus com desabrigados estacionavam no ginásio; os dias em que nossa televisão se pintou de marrom. De nossa janela, víamos o caminho para Germano, o complexo antes commodity, então trágico, a unidade de saúde e a arena esportiva. Tentávamos explicar para a menininha nosso assombro, nosso medo ao ouvir os sinos centenários tocarem todos ao mesmo tempo, nosso planejamento de fuga (que incluía radinhos a pilha, lanternas e um guia da Cruz Vermelha).
Coloco minha filha, então com quatro anos, para dormir. “Da terceira margem, eu choro por tudo e por todos.” Releio, sozinha, Um dia, um rio, o premiado livro de Leo Cunha com ilustração de André Neves que narra para crianças (e para mim) a morte do Rio Doce, apenas uma das consequências do derramamento de lama ocasionado pela irresponsabilidade da mineradora Samarco (joint venture da gigante brasileira Vale e da britânica BHP Billiton) sobre o subdistrito de Bento Rodrigues, povoado rural da cidade mineira de Mariana, nossa morada. O mapa do território de lama inclui, além “do Bento”, pontos como Gesteira, Pedras, Ponte do Gama, Campinas, Barra Longa, Barretos, Krenak, Paracatu – de Baixo e de Cima – Gualaxo, Governador Valadares, Resplendor, Linhares, Baixo Guandu, Regência, Doce.
As páginas me transportam para uma visão que tive, em uma viagem, da ponte sobre o rio morto, arrastando-se abaixo, marrom, rumo ao litoral. Transportam-me para a primeira vez em que, moradora de Mariana, pisei em Bento: quando já era escombro, uma imensa olaria não planejada, a céu aberto, carregada de afetos, tristeza, restos e impossibilidade. Caminhando pela lama, ao lado de meu marido, de alguns de nossos alunos e de oficiais do Corpo de Bombeiros, achei o que sobrou de um outro livro.
João sem braço trazia no que sobrara da capa um nome conhecido, José Benedito Donadon-Leal, a quem as crianças chamam de “tio Dito”. Fora doado pelo autor, notório escritor local e professor da Universidade Federal de Ouro Preto, à Escola Municipal Bento Rodrigues, agora um conjunto de paredes destelhadas e balanços suspensos na subida, na direção que a lama ordenou. Meu marido fotografa a descoberta. Um pouco constrangida, rasgando a privacidade do livro, da lama, de quem leu a obra e do Bento, arranco o volume do chão para devolvê-lo ao autor. Um ano depois, nasceu Gualaxo, poema heroico sobre nossa porção, a mais íntima dos marianenses, da destruição hidrográfica da tragédia. Foi escrito pelo Dito na forma de aldravias, movimento literário com foco em Mariana. Na contracapa, a fotografia do livro na lama.
Os três livros, alinhavados pelo rompimento da Barragem de Fundão no complexo minerário da Samarco em 5 de novembro de 2015, martelam na minha cabeça uma dor que não me pertence, mera observadora citadina (e estrangeira; só me mudei para a “primeira cidade de Minas” ao passar em um concurso para professora na universidade federal). Não perdi minha casa, minha roça, meu quintal, meus álbuns de fotografia, minhas carteirinhas escolares, minhas roupas preferidas, a camisa do marido morto (que cheirava à noite), algum parente. Não perdi meus livros. Minha vida, à parte esses afetos tristes e confusos, estava intacta. A dos (ex?) bento-rodriguenses, por outro lado, é só cacos.
Alguns se queixam de sequer serem reconhecidos como atingidos, a denominação comum, de força política tremenda, que adotaram para si. Recusam-se como vítimas – ainda que a tragédia da barragem tenha deixado, sim, 19 vítimas fatais (um corpo jamais foi encontrado e uma mãe briga judicialmente para que a Samarco reconheça que ela estava grávida na época e que perdeu o filho na fuga de Bento; o filho abortado seria a 20ª vítima).
Outros estão atordoados com a vida provisória na cidade, 58 mil habitantes onde antes eram 600. Há quem não tenha esperanças de que o “novo Bento”, como tem sido chamado o futuro assentamento, nas proximidades de Mariana, consiga recuperar o sentido de comunidade que a lama levou. Alguns não saem de casa, outros plantam couve no gramado em frente aos prédios. A mãe que morava vizinha aos nove filhos e aos netos agora vive sozinha, isolada numa casa que não reconhece, a família espalhada por bairros a que não sabe chegar. Houve tentativas de suicídio, aumento nos índices de alcoolismo, desemprego, prostituição, declínio na saúde física e mental.
Houve e há, enfim, o trauma. As vidas dos moradores de Bento, narradas a partir de identidades firmemente assentadas na comunidade rural, tiveram seus fluxos interrompidos quando a lama bateu às portas deles, no meio de uma tarde de quinta-feira. Quem acreditaria que uma barragem com milhões de metros cúbicos de lama, uma das milhares existentes no país, um dia ia simplesmente desabar sobre as pessoas, o rio, a cidade?
Durante um ano, Mariana viveu Bento intensamente, à flor da pele. A cidade perdeu o viço fugaz trazido pela riqueza predatória da mineração: quando a mina parou, a cidade ficou sem prumo. No 5 de novembro de 2016, a cidade recordou, querendo ou não, o ano anterior. Foi lembrada à força pela imprensa, que voltou a afluir. Mas também quis se lembrar. Uma lembrança coletiva, fantasmagórica, um aniversário às avessas – um desaniversário. Em 2017, nos dois anos, voltou a imprensa, mas o Bento nunca deixou de doer a cada dia, a cada entrave nas negociações com a mineradora, a cada atraso, a cada decisão judicial.
***
Em 5 de novembro de 2016, muitos moradores foram a Bento em comitiva (os escombros se tornaram uma espécie de lugar de peregrinação para muitos atingidos do lugar, como também para pesquisadores, ativistas, jornalistas, agentes públicos). Os alunos da escola municipal, que abriga cerca de 100 crianças e adolescentes da Educação Infantil até o nono ano do Ensino Fundamental, realizaram o projeto Bento Rodrigues: Minha história, nossa vida durante vários meses, que culminaram num sábado.
No dia 5, parecem ter colocado para fora um tanto de coisas sufocadas, em uma exposição no centro de convenções da cidade. Havia plantas típicas do subdistrito, muitas fotos antigas, poemas, quadros. Houve apresentações de contos, causos. Na parte de fora do grande salão onde as apresentações eram realizadas, observo as fotografias produzidas por um grupo de adolescentes que participou de oficinas do curso de Jornalismo da Universidade Federal de Ouro Preto, coordenadas por mim e meu marido.
Um homem que não conheço se aproxima. “Ó, ó o filho de fulana ali!”, me aponta. “Uai, que lugar é esse?”. Era a paisagem do Bairro Rosário, a visão que os meninos tinham do pátio da escola provisória onde foram alocados pela prefeitura. A esposa se aproxima e explica o cenário. “Vixe, não reconheço nada dessa cidade.” Ele perscruta a foto panorâmica até que descobre a casa onde vive com a família, alugada pela mineradora como parte do acordo com os atingidos. Morando há um ano em Mariana, ainda não sabia ler o mapa fotográfico da cidade.
O ápice do evento, que alguns chegaram a chamar de “comemoração” – como se comemora tanta dor? –, era uma peça, encenada por alunos de todas as turmas da escola. Foi concebida e dirigida pelo palhaço Furreca, Eduardo Romagnoli, um pouco à revelia das professoras. “A gente não tinha muita confiança no que ele estava fazendo, nem entendia, mas era ele que sabia fazer, né?”, contou-me, tempos depois, a diretora da escola, Eliene dos Santos.
O palco era, na verdade, ao lado do palco. Um quadrado raso cheio de terra marrom. Entram algumas crianças. Remexem a terra. Encontram bola, corda. Começam a brincar no descampado, adoleta, cirandas. Fim do ato 1. A cena seguinte traz as crianças vestidas com roupas de festa junina. No meio da terra encontram estandarte. Fazem coreografia de quadrilha, uma das festas tradicionais do distrito, marcado por folias e procissões, pela igreja tricentenária – hoje demarcada por um quadrado de adobe das fundações e uma pia batismal com lama em vez de água benta.
Ato 3. Entram meninos e meninas vestidos com o uniforme do time do subdistrito, União São Bento. Escavam bola e bandeira do time. Improvisam uma partida de futebol. Na plateia, algumas pessoas começam a cantar o hino do time, a capella. O espetáculo não estava mais só no palco. Viro-me em direção aos pais, mães, avós de Bento Rodrigues que assistiam, emocionados, à metáfora encenada pelas crianças e adolescentes.
No palco-terra, outro grupo recupera memórias do Bento: desenterram fotos, roupas, santos. Mulheres mais velhas choram. Novo ato. Alguns adolescentes vestidos com farrapos de roupas manchados de lama entram e dançam um funk composto por MC Dick MF sobre a tragédia, que circulou bastante na cidade pelo Whatsapp no fim de 2015. A letra, à moda do funk, é dura; mistura a narração das perdas das famílias a locuções de reportagens da época e a mensagens de superação. A coreografia ecoa a aridez nos movimentos. O último ato traz meninos e meninas carregando maquetes do distrito; a igreja, a praça, o Bar da Sandra, a escola, casas. Uma aluna lê um texto sobre o novo Bento. Num canto, Eliene soluça de tanto chorar. As famílias se abraçam, aos prantos. A tristeza do Bento soterrado se misturou à esperança do Bento prometido.
À noite, vamos com nossa filha ao ato mensal que um coletivo local, 1 Minuto de Sirene, faz em memória da tragédia: soa uma sirene, em resposta ao aviso sonoro que a Samarco só se deu ao trabalho de instalar no que restou do Bento e nas outras comunidades após o rompimento. Naquele dia, o titereiro Catin Nardi, diretor de uma famosa companhia marianense de bonecos, a Cia. Navegante, faria uma performance.
O boneco de madeira começa despido, um rascunho, e aos poucos ganha braços, pernas, boca, olhos, roupas brancas. É ela. Anda. Percorre um espaço da Praça Gomes Freire, o Jardim, ponto central de trânsito da cidade. Encontra outro boneco. Bailam juntos. Se amam. De repente, o boneco mergulha num balde. Nardi chuta o objeto, que derrama a marionete mergulhada em lama, inerte.
A amante deita-se sobre o companheiro morto. “Pensem nas crianças mudas, telepáticas. Pensem nas meninas cegas, inexatas. Pensem nas mulheres rotas, alteradas. Pensem nas feridas como rosas cálidas. Mas, oh, não se esqueçam”, entoa Ney Matogrosso na trilha sonora, feita para outra tragédia, mas tão apropriada ali. A cena permanece, prolonga-se: um corpo chorando outro, sobre a lama. Começa a chuviscar. Na escadinha da praça, a pequena plateia não se move, atordoada.
Como é possível esquecer? Ninguém esquece. O lojista prestes a fechar o ponto por falta de clientes não esquece. A empregada doméstica que perdeu o posto quando os patrões foram transferidos para Carajás não esquece. A coordenadora escolar que demitiu oito professoras porque perdeu alunos não esquece. Os proprietários de apartamentos vazios nos bairros burgueses não esquecem. As empresas terceirizadas, privadas subitamente de seus contratos, não esquecem. O motorista que parou de dirigir a camionete até a mina não esquece. O caminhoneiro que perdeu o aluguel do veículo não esquece. O contratado da prefeitura, demitido devido a cortes de gastos, não esquece. A diretora da escola municipal, que recebeu um abaixo-assinado pedindo a saída dos alunos de Bento do colégio provisório, não esquece. A mãe que perdeu a filha não esquece. A menina que perdeu o irmão não esquece. A mulher que entrou no rio para recuperar a casa não esquece. O homem que se arrastou pelo barranco ao fugir da lama não esquece. A mulher que ouve o barulho do tsunami quando se deita para dormir não esquece. A senhora que ouve alguém chamá-la de aproveitadora na rua, porque recebeu indenização da mineradora, não esquece.
***
Hoje, pouco mais de dois anos depois do rompimento, os índices de desemprego chegam a 25%. A mineradora não consegue voltar a operar, as indenizações estão emperradas, os projetos de reassentamento de Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo estão atrasados, muitos moradores temem morrer sem voltar à roça. A prefeitura busca alternativas, mas parece em um beco sem saída. Empresas terceirizadas da Samarco vão à falência e dão calote no comércio e nos trabalhadores locais.
Muitos não falam mais sobre aquele dia. Muitos não falam mais sobre Bento. Muitos não conseguem falar. Outros se empoderaram, assumiram a luta pela responsabilização da empresa, pelas justas reparações. Outros tantos carregam a vida com as memórias de Bento guardadas e revisitadas nas ruínas. Um jornal comunitário, A Sirene, circula com as demandas e histórias da comunidade.
Cada um a seu modo, os livros, a peça e a performance falam muito sobre Bento, sobre a tragédia, sobre o rompimento, sobre o trauma. Pensar no Bento é, para mim, também pensar nas respostas dadas pela arte à impossibilidade de a vida narrar-se, de ser narrada de maneira apropriada ou condizente com o que nos afoga por dentro. Nessas situações-limite, no limiar da possibilidade (no que deveria ser impossível, mas aconteceu), diante do trauma, a arte pode dizer o indizível, fazer-nos ouvir, ver, ler, apreender o que na realidade parece inapreensível.
Como a arte tem a capacidade de fazer, essas iniciativas nos afetam e promovem encontros com esses blocos de sensações à nossa frente, dentro. São potências afetivas. Nos meus encontros com cada um desses artefatos artísticos, operam pequeníssimas transformações, mas importantes. Não à toa, gravaram-se como imagens, imagens-texto, e martelam; repetem-se. A ficção é mesmo o espaço de escape da vida, do indizível, do trauma. A arte é, de fato, o que nos salva da verdade.
Esses fragmentos oferecem respostas, ainda que passageiras, talvez, a um conjunto indefinido e interminável de angústias que se instalaram em Mariana desde que o (frágil?) véu de estabilidade da Primaz de Minas se rompeu e tingiu de marrom uma história forjada em tradição, fé, minério e lutas. São respostas, paradoxalmente, inexatas, incertas. Nenhuma delas encerra as questões que “a barragem” nos propôs, nos afrontou, sem que nenhum de nós tivesse perguntado. Mas nos ajudam a processar adequadamente as informações, os microacontecimentos que não chegam a nenhuma página de jornal, mas inquietam e alvoroçam a cidade. Como dizem pelas ruas de Mariana, aqui, a barragem ainda se rompe todo dia.![]()
KARINA GOMES BARBOSA é jornalista, pesquisadora e professora da Universidade Federal de Ouro Preto.





