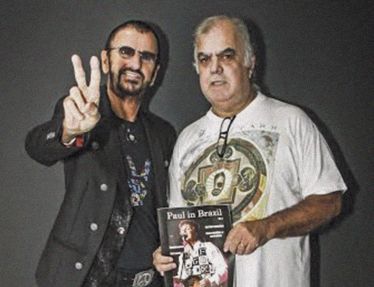Festas: Do cotidiano para a arte
Manifestações populares tradicionais articulam desejos e aspirações do passado com o presente, num momento de suspensão de papéis e congraçamento social
TEXTO Guilherme Novelli
01 de Agosto de 2015

Foto Sattva Orasi/Divulgação
A festa impregna o sentir e o fazer brasileiro, constrói nossa identidade, sedimenta a construção de quem somos, nossa sensibilidade, desde os primórdios de nossa colonização e formação. Segundo o historiador Jacob Burckhardt, a celebração é o “momento solene da existência de um povo, onde um ideal moral, religioso e poético ganha forma visível”. Este mesmo historiador defende que, na ocasião festiva, ocorre a “transição da vida comum para a arte”.
Divino Espírito Santo, Círio de Nazaré, Reinado/Congado, Boi-Bumbá e tantas outras. Manifestações da cultura popular tradicional brasileira que, apesar das cores e formas distintas, reúnem motivos recorrentes nos quatro cantos do país, entrelaçados ao longo da história de formação e de confrontação dos diversos grupos étnicos e sociais.
Reis congos, cristãos e mouros, culto aos santos e marinheiros. Segundo os pesquisadores Mariana Monteiro e Paulo Dias, esses são os principais motivos das festas brasileiras, que se multiplicam numa complexa dinâmica entre festas de resistência de uma cultura ameaçada e proibida, e festas aceitas e difundidas como “diversões honestas”.
Elas expressam um conhecimento e uma memória presentes no corpo dos que as fazem. Uma história cultural dos povos e populações brasileiras, incorporada nos gestos e no fazer dessas celebrações, assim como uma expressão dessas populações diante das realidades que elas vivem. “As festas têm relação com o passado, uma herança de tradições dessas comunidades; através desses rituais, uma memória é mantida e reavivada. Como diria o antropólogo Clifford Geertz, ‘é uma história que eles contam sobre e para eles mesmos’”, explica John Dawsey, professor de Antropologia da USP.
“Os participantes não vão saber dizer exatamente o que é essa festa, mas ela está lá no corpo, e o que eles não dizem se faz através das danças, dos sons, das músicas. Essas comemorações são estórias contadas através do corpo”, continua. A festa faz a cidade, revitaliza as relações sociais. Os participantes se veem fazendo parte da formação de uma identidade. “Como Victor Turner diz, é um momento de suspensão de papéis, em que acontece um congraçamento social. As pessoas se veem face a face de outra forma, fora daqueles papéis sociais cotidianos, evocando lembranças e memórias que se afundam no passado, mas que também estão no corpo delas”. Nos percursos por onde a festa acontece, procissões ou cortejos, a comunidade organizadora carrega uma mensagem de ‘nós pertencemos a esse lugar’.
Durante muito tempo, a festa do Divino fez parte de um catolicismo não oficial.
Foto: Anahí Santos/Divulgação
Esses rituais que estão em risco de cair no esquecimento evocam formas de pensar o mundo. Por isso, é uma experiência marcante, extracotidiana. São populações que, em muitas ocasiões, estão vivendo situações de perigo. “Não é à toa que, às vezes, encontramos imagens assombrosas nas festas, com figuras grotescas, chifres, imagens que provocam o terror, mas com riso. As pessoas lidam com coisas do dia a dia e, em muitas oportunidades, esse dia a dia pode ser uma experiência insólita.”
CICLO DO DIVINO
Momento do milagre, da multiplicação dos pães, do alimento, da fartura. Isso tudo cala fundo nas pessoas, porque nesse momento elas estão articulando o seu cotidiano com o espaço do sagrado. O Divino ganha a cor do povo. Na folia, uma procissão com grupos musicais, no Divino Espírito Santo de Pirenópolis (GO), a multidão vai para o interior, passando pelas casas. “É o Divino chegando e trazendo uma energia do sagrado, mas esse sagrado vem junto com as energias do povo, as narrativas, as coisas que se contam na chegada, e a tradição que começa a ser lembrada. O Divino também tem a ver com fome, com doença, com tudo aquilo que o povo sofre. Não é à toa que ele chega com tanta força”, continua John.
Folias, coroação do imperador, cerimônias do império. Cavalhadas, encenações de batalhas em homenagem ao imperador e ao Divino Espírito Santo. Mascarados, pastorinhas, congadas. O complexo do Divino de Pirenópolis acontece desde 1819 e dura cerca de 60 dias, com clímax no domingo de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa.
A festa do Divino é recorrente por todo Brasil. É uma das festas que mais se espalharam. O festejo é mais antigo que o próprio catolicismo. Na época do Antigo Testamento, dos judeus, era uma festa de primícias, de primeiros frutos. Eles colhiam os primeiros trigos, faziam pão e ofereciam para a divindade. As irmandades católicas do Divino Espírito Santo mais antigas da Europa datam do século 13. “Durante um certo tempo, essas irmandades tiveram vigência, foram toleradas pela igreja oficial, mas logo passaram a ser vistas como heresias, com rituais desviantes do catolicismo oficial”, conta Paulo Dias, etnomusicólogo, presidente da Associação Cultural Cachoeira.
Existem teses teológicas sobre o Divino, como a do monge Joaquim de Fiore, de que existiram três eras: a Era do Pai, no Antigo Testamento, do Deus Vingador. A Era do Filho ou Deus Redentor, o Deus que dá a outra face, Jesus Cristo, o Deus de amor. E a Era do Espírito Santo. Isso é baseado na ideia de que Deus é composto por três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. “A igreja católica, enquanto instituição, sempre intermediou as relações entre Deus e o seu rebanho. Nunca ninguém tinha conversado diretamente com Deus. E a Era do Espírito Santo se caracterizaria pelo contato direto do homem com a divindade. A função da igreja, portanto, fica meio anódina.”
Por essa razão, durante muito tempo, a festa do Divino Espírito Santo esteve mais fora do que dentro da igreja. Fazia parte de um catolicismo não oficial, heterodoxo. O catolicismo português, ibérico, era ancorado num território influenciado por tradições celtas antigas, como as festas de solstício, de colheita, de entrada da primavera. O clero, mesmo na época em que veio ao Brasil, tinha enorme dificuldade em desenraizar essas tradições antigas do povo português. Entre elas, está o culto ao Divino, feito com grandes festas, farta distribuição de alimentos, danças, folias. Isso tudo veio parar no Brasil, porque era um catolicismo arraigado no povo.

Nas festividades, é comum se ver a pomba, símbolo do Divino Espírito
Santo, em bandeiras e outros adereços. Foto: Sattva Orasi/Divulgação
“Em termos de magnitude popular, o culto ao Divino é enorme. O marechal Rondon chegou num rincão distante da Região Norte e perguntou aos ribeirinhos: ‘Quem é o presidente do Brasil? Como é o hino nacional brasileiro? Como é a bandeira do Brasil?’ Eles responderam: ‘A única bandeira que eu conheço é a bandeira do Divino Espírito Santo’.” Antes até da identidade de estado, nação, está o pertencimento a um corpo de crenças, que seria o complexo do Divino, fundado nessa revelação direta aos fiéis.
Sempre existem, nas festas do Divino, cortejos com imperador e imperatriz, normalmente, pessoas que patrocinam uma parte da festa. “Dizem que D. Pedro até mudou o título dele de rei para imperador porque José Bonifácio disse: ‘Olha, pela fé que o povo tem no Espírito Santo, é melhor você mudar seu título para imperador’. Existem até tambores que pertenceram a D. Pedro II com a insígnia do Divino”, conta Paulo.
MISTÉRIOS DA SANTA
Um caboclo, de nome Plácido, estava caçando às margens do igarapé Murucutu, Belém do Pará, no ano de 1700, quando encontrou no lodo a imagem de uma santa com, coincidentemente, uma réplica da Nossa Senhora do Nazaré portuguesa. Levou-a consigo e deixou-a num altar em sua casa. No dia seguinte, a santa sumiu. Voltando ao igarapé, Plácido encontrou-a no mesmo local. Levou-a de novo para casa e, para a sua surpresa, a santa desapareceu e de novo voltou ao igarapé. A história chegou aos ouvidos do governador D. Francisco de Souza Coutinho, que levou a santa para seu palácio. Mas ela desapareceu e foi encontrada de novo no lodo. Vinte e um anos depois, o então governador vigente ordenou que, no local onde foi encontrada a imagem de Nossa Senhora do Nazaré, fosse construída uma capela de taipa, para onde a santa seria levada.
No dia 8 de setembro de 1793, aconteceu o primeiro Círio de Nazaré, a primeira procissão vinda do palácio do governo, em Belém do Pará, para a capelinha no igarapé. A santa foi levada no colo de José Monteiro de Noronha, governador do bispado, num cortejo militar. Desde então, o Círio sofreu muitas modificações de datas e, atualmente, é celebrado no segundo domingo de outubro.
Devido às grandes peregrinações para homenagear a virgem, as autoridades locais reedificaram a capelinha e construíram no local uma basílica em estilo romano, de forma retangular, com capacidade para receber milhares de fiéis. “Já estive em Belém, falando com as pessoas sobre a festa do Círio de Nazaré. É uma coisa poderosa, de histórias e imagens. Milhões de pessoas participam desse cortejo. É gente que vem do interior, cidades pequenas, chegam em embarcações. Essa procissão tem uma energia social muito forte”, explica John Dawsey.
O cortejo do Círio de Nazaré pelas ruas de Belém atrai milhões de pessoas. Foto: Divulgação
A história do caboclo Plácido remete a outras aparições, como a da Nossa Senhora de Aparecida, no interior paulista. “Foi encontrada por um caboclo e ela também é de uma cor escura. Isso é marcante, na verdade, se pensarmos na formação da nossa população. A figura da mãe, mãe de Deus, mas também mãe dos devotos, de cor cabocla, mistura do índio, do negro e do português. Ela é uma figura que anda, que é errante. O governador tentou levá-la, mas ela volta para o lugar onde foi encontrada. Como essa história reverbera na população?”, indaga.
Darcy Ribeiro, Gilberto Freyre e outros tantos inscrevem, na formação do Brasil, esse mito de origem da sociedade brasileira, das três raças: do branco, do índio e do negro. “A mãe da nação é uma índia laçada no mato, praticamente, em muitas histórias que contam. A relação da Nossa Senhora com uma população, filhos seus e de um pai português, símbolo do poder, mas que tem os filhos através da índia ou da negra. A população brasileira é isso. A figura de uma mãe índia cala fundo. Nós podemos observar essa questão não apenas através da cor da pele do povo, mas da formação social da população, formação desse corpo brasileiro”, continua.
As procissões do Círio de Nazaré e de Nossa Senhora de Aparecida acontecem na mesma época, em outubro, num ciclo da dádiva, do dom, “daquilo que o antropólogo Marcel Mauss define como reciprocidade: pessoas homenageando a mãe e ela retribuindo, porque é uma mãe poderosa. Tal como a índia laçada no mato, ela pode surpreender. Em termos teológicos, se pensarmos o Pai, o Filho e o Espírito Santo, essa mãe fica às margens, mas é a responsável por fazer a mediação com os filhos”.
CONGADO/REINADO
O rei de Congo, no século 16, se deixou batizar pelos portugueses em troca de apoio militar para poder mover guerra contra seus inimigos tribais. A partir daí, começou um processo de acomodação de um pensamento africano e católico. “Eles mandavam os nobres estudarem em Coimbra, eram todos batizados, mas, quando voltavam, não abandonavam o culto aos antepassados. Então, muitos desses africanos vindos ao Brasil escravizados já carregavam o pensamento de um culto a algum santo católico, o rei Congo já aparecia como um rei católico”, define Paulo Dias. No Brasil, a palavra congo começou a denominar qualquer rei dessa tradição do reinado/congado. O reinado se preservou enquanto instância religiosa afrodescendente. Em Minas Gerais, adquiriu uma importância grande, com o registro de cerca 500 irmandades.
A Associação Cultural Cachoeira lançou o livro O reinado de Nossa Senhora do Rosário do Jatobá, que trata de uma irmandade que se formou a partir de uma fazenda, chamada Pantana, na qual trabalharam diversas etnias africanas. Nela se falou durante muito tempo uma língua africana, o benguela, e foi tombada na capital mineira como um dos espaços mais antigos de culto afro-brasileiro.
Reinado tem muita força em Minas Gerais, com mais de 500 irmandades, entre elas a de Nossa Senhora do Rosário do Jatobá. Foto: Alexandre Kishimoto/Divulgação
Quando falamos em congado mineiro, imaginamos o conjunto desses grupos. Quando falamos em reinado, imaginamos a tradição das linhagens reais, das majestades afro-brasileiras. “Rei e rainha de Congo são os reis que, geralmente, patrocinam a festa: rei e rainha de São Benedito, rei e rainha de Nossa Senhora das Mercês… Temos as guardas, que são grupos musicais e coreográficos representando esses antigos séquitos, já descritos anteriormente pelos viajantes europeus ao Brasil desde o século 17. Eles faziam suas danças e autos teatrais diante dos soberanos, rei e rainha de Congo”, descreve Paulo.
Os grupos rituais são chamados de congadas e podem cair em alguma dessas categorias: congo, moçambique, catupé, vilão, marinheiro, marujo, cacunda, caboclo, candombe. Grupos com estilos musicais, coreográficos, todos devotados aos santos católicos de devoção negra, a maioria deles ligada às irmandades. As congadas têm diferentes denominações, segundo seu estilo e as forças espirituais que elas representam. “Os caboclos, por exemplo, são remanescentes de danças jesuíticas, cujos quadros étnicos daqueles dançantes foram sendo substituídos por negros, que se consideram, vestidos de índios, como representantes das forças espirituais dos ancestrais da terra.”
O banto assimila a religiosidade do povo local, não importa se na África ou no Brasil. “Muitas das divindades africanas deixadas para trás na diáspora foram reinterpretadas com cores locais, no Brasil. Então, o caboclo é muito importante, porque é quem está primeiro, e sua ancestralidade tem de ser cultuada”. Existe na África uma preocupação muito grande com linhagens, com ancestralidade. A cadeia de parentesco sanguíneo une o africano ao primeiro ser humano sobre a terra e ao preexistente, que seria a ideia de um deus criador.
No Brasil, a questão das linhagens de sangue deixou de existir, porque os traficantes de escravos procuravam desfazer as famílias, desmanchar o clã, para não se unirem na diáspora, não formarem um espírito étnico coletivo. Isso fez com que fosse necessária uma reconstrução da pessoa espiritual da ancestralidade. “Não se sabe ao certo, mas a figura dos reis tem muito a ver com a reconstrução da ideia de uma linhagem, de um reinado, que teria origem na África, simbolicamente”, explica Paulo.
A força da tradição está relacionada a histórias que ainda não se realizaram. São pessoas que estão lutando por coisas que ainda não aconteceram. “Não é simplesmente um desejo de querer ser como antigamente. A questão mais forte dessas festas populares não é lembrar um passado que já foi embora. São histórias de grupos que estão em risco, na verdade. De grupos que estão lembrando não tanto como se faziam as coisas no passado, mas coisas que seus antepassados estavam buscando. Sonhos e aspirações de um passado ainda não realizados”, conclui John Dawsey. ![]()
GUILHERME NOVELLI, jornalista.