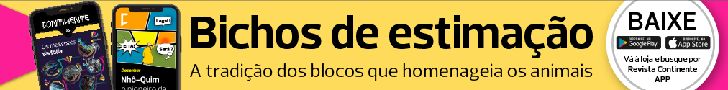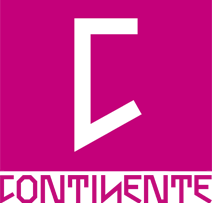Francisco Brennand prepara livro em que destaca pinturas
Artista, que este mês completa 82 anos, apronta trabalhos e seleciona obras de seu acervo para publicação de 'Escrito na porta', que deverá ser lançado em 2010
TEXTO Fernando Monteiro
01 de Junho de 2009

'Autorretrato como cardeal inquisidor' é óleo sobre tela, datado de 1947
Imagem Divulgação
À imagem e semelhança das culturas mais ou menos “inseguras”, a nossa ainda persegue a si mesma. Historicamente, ela sempre se procurou num espelho de três raças (no mínimo), e prosseguiu na busca de sinais autóctones com quase comovente incerteza de si própria, olhando em pelo menos três direções diferentes.
Esse sentimento é que explica, por exemplo, todas as hesitações tateantes da confusa Semana de Arte Moderna de 1922, numa ponta – antiga, já –, enquanto, noutra ponta, torna-se a chave também para se entender aqueles que, como Ariano Suassuna, sonham com impor ao Brasil o que eu chamaria de uma “mitologia de emergência” (por não possuirmos uma autonomamente nossa). Claro que não dá certo, não é por aí, não é bem assim que se processam as coisas – pelo menos na cultura.
Esse assunto é o primeiro que se cruza, necessariamente, com o da pintura de Brennand, uma vez que esse pernambucano universal também “gozou”, digamos, do desconforto (é essa a palavra exata?) que se introduz na alma de todos os artistas originais que, “neste país” das máscaras de ferro, não se lançaram somente pelas estradas esquizofrênicas das perguntas, de 500 anos, sobre quem somos.
A resposta, na pintura de um Brennand, não foi – reconheçamos, desde já – para um país, para uma cultura apenas, ali no gueto do seu ateliê, no qual continuou pintando, mesmo depois de considerado uma espécie de pintor lateral, cujo nome segue ligado a algo como um néon acendendo e apagando: “Cerâmica – Ceramista – Cerâmica”.
Na realidade, nem sequer podemos dizer que ele tenha querido responder às perguntas angustiantes (em torno de si mesmo, como cultura), que o Brasil sempre fez – e continuava a se fazer na altura em que o jovem Francisco retornou da sua primeira viagem à Europa, com influências do velho continente que quase todos tomaram como tatuagens menores, a posteriori, no Movimento de Cultura Popular e outro de uma época tão rica, ideologicamente, quanto perigosa para a liberdade essencial – ou radical – de um artista.
Na alcova, acrílica de 1995, é uma das pinturas em que se destaca o enquadramento inusitado. Imagem: Divulgação
Aliás, não há liberdade que não seja radical, no melhor sentido da palavra liberada dos antigos “patrulhismos”. Bem, seja como for, naquele retorno é que se pode dar por começado o caminho do pintor Francisco Brennand, evoluindo por conta própria, com a máscara de ferro não voluntariamente na face e a elegância – elegante demais – de não dizer: “Não, eu não sou propriamente o ‘ceramista’ do conforto identificatório dos outros”.
Pelo contrário, ele aceitou elogios que lhe estreitavam – e ainda lhe estreitam – a inequívoca realização artística maior do que os encômios. Tem culpa no cartório dessa coisa toda. (É difícil se desvencilhar do abraço do tamanduá-bandeira que vem nos afagar com limites disfarçados, com tesouras cortantes sobre a zona do eixo do talento, enquanto atiram-se facas de sombra na água dos pincéis todos os dias lavados.)
Há uma história a se contar – sempre há – enquanto os cães passam e a caravana ladra.
MOEDA DA ALMA
A “história” se inicia quando Francisco de Paula Coimbra de Almeida Brennand, sozinho com o seu nome luxuoso, com as suas leituras, os seus pintores admirados, os seus filmes vistos e revistos, veio a assumir a solidão de criador que marca a vida de todos os artistas verdadeiros (são tantos os falsos, hoje em dia, que adjetivar como “verdadeiro” é não menos que importante – para que se saiba ao que nos referimos).
Ninguém – entre os que não são de barro falso – assume algo assim sem pagar caro, em moeda da alma, e arranjando algum sério problema para si mesmo, no dia-a-dia prosaico que os artistas (mesmo os maiores ou mais verdadeiros, repita-se) também vivem.
A verdade é simples, quando se resolve dizê-la como quem diz: “Há aviões no céu que já não nos protege”. Decolando, de novo: a história se inicia naquele ambiente artístico – nacionalmente falando – que colocava questões bem postas (e impostas) nos anos de 1950 para 1960, se não um pouco mais além, até a data fatídica do golpe militar de 1964 e os anos que vieram com bloco de chumbo envolvido em gaze molhada.
O pântano, acrílica sobre tela, é um dos trabalhos realizados pelo artista nos anos 1980. Imagem: Divulgação
Voltemos com o filme do Brasil a se perseguir como um doido no espelho. A cena da vida brasileira que, então, se nos apresenta – no que diz respeito a Brennand –, fora do centro desfocado, é a de um pintor pernambucano de família rica e perturbada na zona de sombra dos conflitos que dividiam a sociedade, reproduzindo o modelo do Brasil do “retrato na parede”, à procura de si próprio, atrapalhado pela origem e confundido por elogios ao que ele ainda não sabia se era o centro ou o fundo da obra que estava tentando arrancar do massapê, sempre movediço, da juventude. A frase é longa como a memória é curta. Brennand sabia que nenhum homem amadurece sem a dor de se descobrir só, nas Antilhas das viagens interiores, feitas para se perder (tudo é para se perder) e para se perceber como Robinson se autopercebe, na ilha de antes de Sexta-Feira.
Brennand é um Crusoé que teve o Segunda-Feira e o Terça, o Quarta e o Quinta (além do Sexta) na sua saison en enfer de pintor crescendo em semissolidão povoada de vozes.
Tais vozes inicialmente diziam que era vital e necessário afirmar, por exemplo, a “brasilidade” da obra – em qualquer linguagem – antes dos Juízes Sem Rosto se permitirem apreciar uma coisa, artisticamente. Era assim. Muitos paravam o andar da carruagem de uma boa crítica (não só sobre ele), para analisar se o criador em questão acaso seria ou não seria “brasileiro”...
Ao longo do tempo, é claro que a expressão artística brennandiana, levada para a cerâmica – por influência indireta do pintor (sempre a pintura) Picasso –, foi se impondo pelo menos ao olhar atraído para a Várzea, no lugar onde se ergue a imponente e quase desconcertante Oficina Cerâmica criada, pelo pintor, com plena consciência do que ela significa (ninguém pretenda entender a Oficina mais do que o próprio artista a entende). Dou como exemplo este trecho de uma carta que Francisco nos enviou no dia 9 de agosto de 1993: “Como eu lhe disse, a Oficina é uma estrutura frágil, quase uma miragem, podendo até desaparecer com um simples olhar de gente estranha. De um estranho sobretudo que penetre nessa parte secreta do segredo, nos 22 anos de sua existência, desde aquela tarde de novembro em que caminhei solitário por entre as ruínas, escapando das urtigas brancas, cobertas de pêlos ameaçadores, que vicejavam entre sucatas de máquinas, tijolos escamosos e madeiras carcomidas, desde esse primeiro olhar, pude adivinhar o casulo fechado: um universo paralelo, incognoscível.” Fecha aspas.
Prosseguindo: de modo que está tudo muito bem quando se trata da escultura cerâmica de FB, vista pelo viés do mundo concentrado na velha fábrica restaurada e convertida em oficina produtora de beleza artística e de cerâmica utilitária, povoada das figuras do criador “dionisíaco” que o bom crítico Olívio Tavares de Araújo descobre como Cabral descobriu o Brasil, claramente afirmando a importância maior da escultura, no caso do pernambucano.
CARNALIDADE
Quanto a mim, prefiro acompanhar o próprio artista, que sempre se disse pintor, embora nem por isso tenha conseguido convencer ninguém (ou quase ninguém) a levar ao pé da letra a declaração não só sincera, mas verdadeira e justa.
Reiterada, repetida à exaustão, a autodefinição ainda hoje encontra ouvidos distraídos pelos olhos fixados no conjunto escultórico-arquitetônico, entre as fumaças da Várzea.

Duas meninas espreitam o espectador em Jogos da infância, acrílica sobre duratex de 1991. Imagem: Divulgação
Com tudo isso eu quero dizer que se trata – a pintura de FB – do terreno indevassado no qual alguma obsessão “profana” não só se tornou crônica (o deus, no radical da palavra) como também compensada e redimida por algo como um culto das formas, da representação das coisas, tramado com aquele senso de religiosidade profunda do mundo pagão esquecido no qual todas as artes serviam para apontar no sentido do Alto como do Baixo, desde a “tábula esmeralda” do Trimegisto – que permanece enigmática – ao culto eleusino centrado na existência breve e intensa da carne, Dionísios solto no jardim do que ainda não era “pecado”.
Mais de dois mil anos de cristianismo praticamente apagaram tais lembranças, ou sufocaram os conteúdos remotos de uma celebração como a grega primitiva, por exemplo, da qual até os austeros cristãos primitivos puderam retirar alguma coisa (naturalmente transformada em outra – com certeza bem menos interessante).
Porque tais reminiscências voltam, nos finais de era (e o século 20, por sua vez, ainda não acabou, mesmo diante das Duas Torres caídas em pó, sob o relógio do terror), uma vez que tudo tem a ver com tudo, no círculo do tempo, e aqui está um artista que se situa, como pintor, numa esquisita dobra entre o muito novo e o muito velho, entre a hora passada e a hora futura prestes a se dissolver num mostrador, derretendo-se como aquele de um quadro – do espanhol Salvador Dali – popular como um gadget da arte mercantilizada, fetichizada e, ao fim e ao cabo, esvaziada de conteúdo “por aí”.
O relógio de Dali ainda marcava uma piadinha ácida, posta em alta por um mestre talentoso e cobiçoso.
O relógio daqui, entretanto, o tal que não marca as horas do desconhecimento da pintura de mestre Francisco Brennand, é um instrumento do sol do trópico que só parece rir quando dói (ou é o contrário?).
Aviso aos navegantes (ou aos montanheses da planície): não se enganem com a palavra “trópico”, logo depois de “selvagem”. Esse pintor não está naquela tradição mais domingueira da arte de Pindorama, ele não é um Cícero Dias espalhando cores exaltadas, e, nunca-jamais, o pintor dos sonhos brasileiros de simplificação das coisas, com a alegria botocuda de muitos dos seus pares laboriosamente dedicados aos temas compreensíveis e/ou “encaixáveis” em grupos de assuntos constituídos por gatos e cangaceiros, mulatas e místicos, casario e jangadas, mulheres e homens vestidos de sol na pintura lunar que ele prefere praticar, distante da preocupação imediata com o Brasil ou com cenas da prosaica vida brasileira, como tema – pois Brennand é, por todos os títulos, um pintor fora de tempo, fora de lugar e, acima de tudo, fora de sequência no corpus da arte que tanto mudou (para sempre, ao que parece) nos últimos decênios.
Artista escolheu a pintura Pequena jardineira (1991) para ilustrar a capa do livro.
Imagem: Divulgação
Não se pode tomar senão assim todos os quadros da já citada série que ele chamou de Chapeuzinho vermelho ou as recriações irônicas de Suzana e os velhos, séries pintadas com uma novidade do olhar para o qual ainda precisamos encontrar classificação crítica – se é que tal coisa ainda importa.
SÉRIES DA MATURIDADE
Nessas séries, há moças perseguidas por algum personagem equívoco – geralmente pisando, fortemente, o chão realista da Oficina – ou simplesmente encaradas pela maldição da pintura: revelar um rosto, apanhar um gesto, crucificá-lo contra a luz, sendo que a perna de uma menina se arqueia para que ela possa se empinar, como se a torção da ginástica lhe impusesse um gesto artificial; ela é um modelo e uma pessoa real, ela examina uma foto como se não estivesse nua, a carne treme sob a luz, e Brennand, implacavelmente, a refrata na unidimensionalidade que dirá sempre: “Somos frágeis e temos apenas a sensação sexual a nosso favor”.
Ele fixa as moças com uma piedade que só adquiriu na maturidade, comovido de vê-las na juventude sem tempo – o passado e o futuro são duas abstrações para os moços –, antes da marca da vida se insinuar pelo baixo ventre dos acontecimentos (Marilyn Monroe perguntando e dizendo, em The Misfits, de Arthur Miller/John Huston: “Do que você depende? Eu dependo do próximo acontecimento”)...
Brennand se tornou um pintor da ação – a ação interior – no interior do tempo e revelada pelo corpo, despudoradamente. Nem por isso lhe peçam que pinte um painel sobre a invasão do Iraque – porque tudo que se passa no interior dos seus quadros (com mulheres, geralmente) é tão secreto que somos convidados, pelo tratamento do artista, a nos manter além da cerca, fora das vistas, contemplando um gesto que não se completa ou seguindo uma mulher por um beco interminável, uma metáfora da falta de saída da vida, um modo de pintar que foi, em parte, também o modo de filmar de Mário Peixoto, para expressar o Limite, a prisão das algemas do corpo como lâmpada acesa na sala onde a moça nos defronta com o olhar das mulheres: culpado de tudo, e de tudo inocente, seja numa garota da noite tornada “viúva” precoce – na série brennandiana das Viúvas, literalmente – ou numa ginasta que ainda não saiba das traições do corpo que nos sustenta, única realidade visível, tudo que temos e não temos, como numa outra série (a da Juventude estudiosa) ele nos ensina, ironicamente.
A liberdade pessoal dessas “séries” trafega em todas as direções possíveis, na pintura. Um artista só pinta assim quando chegou à plena maturidade do seu meio de expressão principal, razão de ser da sua vida e obsessão que ele mantém, ainda. Pensa na escultura – com o seu “coração de pintor” pulsando como no dia, seis décadas antes, no qual recebeu o Prêmio do Salão de Arte de Pernambuco (com o quadro Segunda visão da Terra Santa, 1947) como se houvesse escalado um Everest. Havia montanhas mais altas no seu caminho secreto – trilhado como se ninguém o percebesse na luta, já renhida, com a Baleia Branca da pintura.
O lobo figura como um contraponto ao repertório de pinturas de mulheres.
Imagem: Divulgação
Talvez ingenuamente, passa pela minha cabeça que ainda se pode reverter um tanto desse desequilíbrio crítico entre o peso da cerâmica (conforme é vista pelos outros) e o centro sinérgico da sua pintura tomada, até aqui, como uma atividade de backstage (idem).
É o contrário. Ou, se não é bem o contrário, se as duas vertentes da sua obra estão perfeitamente equilibradas sobre a balança do talento para ambas as expressões, o fato é que a cerâmica veio, toda, da pintura que subsiste sob ela. Não se trata de tentar conciliar antinomias, porém, antes, de descobrir no mínimo a complementaridade de uma linguagem em relação com a outra, sendo a pintura a expressão precedente na proto-história do artista que começou frequentando, em 1945, o ateliê do pintor e restaurador Álvaro Amorim, um dos fundadores da Escola de Belas Artes de Pernambuco (juntamente com Balthazar da Câmara, Mário Nunes e Bibiano Silva).
Francisco Brennand é, essencialmente, um pintor, e, nessa esfera da sua criação, tal qualidade se revela de muitas maneiras – nenhuma das quais, infelizmente, óbvia como um gatinho olhando para uma moça tocando alaúde ou alguma natureza realmente mais morta do que viva numa mesa quadriculada de amadores (com um violão em cima, ou uma jaca madura). Nada contra as jacas. Nada contra os gatos. Nada contra o violão, o alaúde, a mesa, e, principalmente, contra a moça. Eu não conheço nada sobre o que valha a pena se escrever que role pelo trilho engraxado das obviedades próprias do gosto da maioria de nós, índios disfarçados de brancos, mas tenho o privilégio e a sorte de estar escrevendo sobre um pintor de temas inusitadamente simples, nas suas pinturas e nos seus desenhos, nas suas pinturas-desenhos e nos seus desenhos-pinturas (as classificações explodem debaixo do sol escuro de Francisco), colagens, assemblages, escolham um nome e façam as suas apostas. Qual arte sobreviverá ao “século da Horda”? A dos gatos nas mesas dos violões das moças em cima dos alaúdes? Ou dos alaúdes em cima das mesas dos gatos dos violões das moças...
Francisco Brennand é um pintor, e isso está escrito na sua porta, para todo mundo saber que adentra o mundo de um pintor pintando seus pesadelos. Reais e noturnos, belos e estranhos como o encontro de uma guilhotina com uma máquina de passar a ferro a máscara de seda que pesa mil quilos de chumbo sobre a face do “ceramista” por cima do rosto do pintor que segue pintando como se a crítica e o público acompanhassem esses quadros que irão sobreviver ao século 21 – não tenho medo de afirmá-lo neste país de tantos medos de afirmações e tantas certezas de negações que traem crenças e credos estéticos e não-estéticos. Prossigo com o estudo da obra pictórica de Brennand – que é o núcleo do livro intitulado Escrito na Porta, a ser publicado no próximo ano – mesmo que a caravana mais do que nunca ladre.
Recife, 11 de maio de 2009, exatamente a um mês dos 82 anos de Francisco de Paula Coimbra de Almeida Brennand. ![]()
FERNANDO MONTEIRO, escritor, autor de livros como Armada América e A cabeça no fundo do entulho.