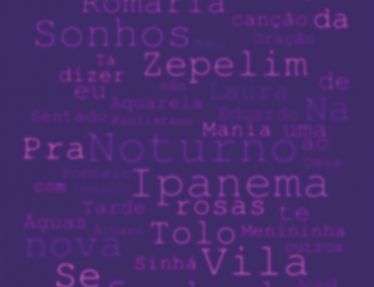“A cena serve como um lugar de expiação”
O escritor, diretor e dramaturgo Alexandre Dal Farra conta um pouco da sua trajetória, seu modo de encarar o teatro e como o palco é o lugar ideal para expor o que escondemos
TEXTO Erika Muniz
02 de Outubro de 2017

O diretor e dramaturgo paulistano Alexandre Dal Farra
Foto Flora Negri
[conteúdo na íntegra (degustação) | ed. 202 | outubro 2017]
Quando entrou para a faculdade de Música, em 2002, por achar que aquele caminho “pulsava mais”, Alexandre Dal Farra não imaginava que se tornaria dramaturgo. O mergulho naquele universo lhe rendeu o convite para fazer direção musical do grupo teatral Tablado de Arruar. Por conta de um exercício de trocas de funções na equipe, acabou escrevendo sua primeira cena. Pela reação do público, já pensou: “Isso é muito mais legal do que as músicas que eu estava fazendo”. E, assim, enveredou pela dramaturgia desde o início de 2005. Atua como dramaturgo, escritor e diretor teatral. Atualmente, mantém projetos também fora do Tablado, desenvolvendo uma linguagem teatral de abordagem bastante peculiar.
É autor dos espetáculos O filho (2015), para o Teatro da Vertigem, indicado ao APCA de melhor texto; da trilogia Abnegação (2014–2016), em que constrói uma narrativa ficcional a partir de vários pontos de vista sobre o lugar da esquerda brasileira na atualidade, dando ênfase à trajetória do Partido dos Trabalhadores; Mateus, 10 (2012), que lhe rendeu o 25º Prêmio Shell de melhor autor; Conversas com meu pai, do Grupo XIX, a partir do material autobiográfico da atriz – e esposa – Janaína Leite; Teorema XXI (2016), também com o Grupo XIX, baseado na obra de Pasolini; e do polêmico Branco: o cheiro do lírio e do formol (2017), cuja estreia este ano na MITsp colecionou críticas. Nele, Dal Farra traz uma perspectiva sobre o lugar do branco em uma sociedade racista. Sempre em torno de temas delicados e suscetíveis a controvérsias, como religião, política e racismo, sua proposta dramatúrgica seria a de apresentar um teatro de provocação, como ele mesmo afirma.
A experiência de assistir a um espetáculo do paulistano sugere fazermos crítica a nós mesmos, refletirmos sobre nossas ações e atentarmos para que somos organismos vivos nesta sociedade e, por isso, capazes de modificá-la. Isso, porque o teatro de Dal Farra gera certo incômodo. Reconhecer-se pode causar estranhamento.
Numa noite de agosto, no Teatro Arraial, depois de ensaio para espetáculo feito em parceria com o diretor pernambucano Pedro Vilela, Dal Farra conversou com a Continente. O título, então provisório, era Fogo no altar, e resultava de pesquisas feitas pela dupla sobre a questão da fé na igreja neopentecostal. Mais uma vez, o dramaturgo pretendia tensionar a sociedade, desta vez, com enfoque na religião. A estreia do espetáculo ocorre este mês, no Teatro Capiba.
CONTINENTE Depois de ver e ler a trilogia Abnegação, surge a curiosidade de como alguém consegue dormir escrevendo aquelas cenas?
ALEXANDRE DAL FARRA Ah… A primeira resposta que me ocorre, mas talvez seja um pouquinho forçada, é de que justamente por isso, por escrever. Porque também a escrita tem um lugar de colocar em cena uma coisa que identifico em mim, no mundo, que vejo no mundo e me incomoda. Uma sensação de injustiça absurda. E a cena, no caso de Abnegação II, por exemplo, serve muito mais como um lugar de expurgo, de expiação disso, do que de um lugar de tentativa de solução desses tipos de questões. O foco da função da cena é muito mais de um lugar que permite que essas coisas saiam do que uma tentativa de resolvê-las. Eu me lembro de Os mestres loucos (1955), um filme do Jean Rouch, documentarista francês, que filma um tipo de candomblé, um ritual que eles fazem no fim de semana na Nigéria, eu acho. Ele encontra esse lugar em que são recebidos santos, mas estes que eles recebem são todos os coronéis, os comandantes. Ficam recebendo aqueles caras e depois começam a andar como se eles fossem comandantes europeus. Os seus algozes. Eles meio que usam aquele espaço para expurgar essas coisas que vivem no dia a dia. E todo sábado vão lá, é superforte, comem uns cachorros vivos, matam e, ao mesmo tempo, ficam andando como se fossem os caras que os oprimem o tempo todo. A relação não é a mesma, mas, para mim, tem muito o palco como um lugar que quer expiar. Não quer colocar coisas no mundo, quer tirar coisas do mundo. Sinto que, no Brasil, a gente tem uma tendência já histórica, gigantesca, de um teatro de pregação que vem desde Anchieta. Um teatro construtivo, um teatro que quer ensinar. Então, as pessoas sempre veem o que você faz como se estivesse querendo colocar aquilo no mundo. Como se aquilo fosse uma coisa que você defende. E daí vem um pouco essa sensação de “esse cara é mau”, “ele quer que isso aconteça” e, na verdade, é o contrário. Eu quero justamente que isso não aconteça. O palco é justamente o lugar onde isso pode acontecer, para que não aconteça no mundo.
Peça Abnegação II. Foto: Jennifer Glass/Fotos do Ofício
CONTINENTE Seria como mostrar para o espectador o que pode acontecer ou o que acontece?
ALEXANDRE DAL FARRA Não! Ele já sabe que isso acontece, já sabe que isso pode acontecer e já sabe que isso não deve acontecer. Todo mundo já sabe. Agora, todo mundo tem em si o germe desse mal, de alguma maneira isso nos estrutura. Meu ponto de partida é: viver em uma sociedade escravista, ditatorial, altamente desigual, totalmente opressora; você não sai ileso disso, não sai tranquilo, você não é um santinho. Alguma coisa em você também é isso de alguma forma. Ou você foi brutalmente oprimido, ou oprimiu-se brutalmente, ou os dois. Possivelmente os dois, na maioria dos casos. Livrar-se disso não é tão fácil, nem a gente quer pensar: “Eu sou legal, não tenho nada a ver com isso”. Não, tem algum lado seu que você está reprimindo, que está escondendo porque está em contato com isso. Então, desse tipo de teatro que quer se limpar disso tudo, eu não gosto. O que me interessa é o teatro que quer justamente colocar isso em cena, porque a cena tem que ser o lugar onde as coisas que a gente esconde, não quer ver e que a gente tira do nosso caminho, elas possam estar aqui. Acredito que tudo que você reprime, tudo o que você tira da sua frente, continua lá. E vai voltar de alguma maneira.
Dal Farra em entrevista à Continente no Teatro Arraial. Foto: Flora Negri
CONTINENTE Seu pai trabalhava com música e teatro. Seria por isso a escolha da linguagem teatral para expurgar essas questões?
ALEXANDRE DAL FARRA O teatro… Mais ou menos acabei caindo no teatro. Ia dizer que o teatro me escolheu, mas achei que ia ficar brega (risos). E não tanto por causa do meu pai (o músico e professor do departamento de Artes Cênicas da USP Zebba Dal Farra), porque ele me levou muito pra música, fiz muita coisa de música com ele, toquei com ele. Fui sendo um pouco criado nesse lugar, sabe? Mas comecei a embarcar mais na música e fui vendo que eu era meio ruim, não era muito bom. Eu tocava até bem, tinha jeito, ritmo e tal, mas nunca tive a verdadeira vocação para ser instrumentista, porque você tem que estudar oito horas por dia, um exercício igual, todo dia. Eu não aguentava nem uma hora, era insuportável. Instrumentista já não ia ser, tentei virar compositor, que foi a faculdade que fiz, mas tudo que fazia era meio merda. Demorou para eu conseguir aceitar isso. Sinto que tinha uma certa dificuldade com a música, uma coisa meio rígida, estranha. Talvez por conta da relação com meu pai, era mais difícil, saca? A sombra dele estava muito mais para mim na música. Acabou que caí no Tablado de Arruar, que me chamou em 2000. Estava saindo do colégio e as atrizes falaram: “A gente vai criar um grupo de teatro de rua e queria que você fizesse a direção musical”. Aí entrei nesse lugar. Mas, na verdade, antes disso eu já estava interessado em teatro. Fiz um ano de curso como ator, no segundo colegial, uma peça que era conclusão do curso: Sete gatinhos. Nela, eu era o Seu Noronha. Até fiz umas aulas com a Myrian Muniz, parceira do meu pai. Mas acabei não dando muito certo lá, porque na aula dela você chegava e ela: “Fala um palavrão”. Aí você começava a falar uns palavrões e ela achava aquilo incrível. Lá, no Tablado eu entrei mesmo no teatro. Nunca tinha escrito nada, nem poema. Em 2005, a gente fez um esquema colaborativo em que as pessoas iam mudar de funções e o cara que ia assumir a dramaturgia teve um problema e o pessoal virou pra mim e “Meu, a gente acha que você deve escrever bem, você usa óculos”. “Tá, mas tem que dobrar meu cachê”, foi a primeira coisa que eu falei pra eles (risos). Entrei, e a primeira cena que escrevi mostrei para minha namorada na época. Ela leu e começou a chorar. Era um negócio com filho, não sei quê e ela tinha acabado de ter o meu primeiro filho. Depois, levei ao grupo e a Alexandra (Tavares, atriz do Tablado de Arruar) se montou lá com figurino e já fez a cena na Praça do Patriarca. A galera adorou e eu falei: “Isso é muito mais legal do que essas porras de música que eu tava fazendo”. E foi assim que eu virei dramaturgo.
CONTINENTE Na sua última visita ao Recife no Trema!, algumas pessoas da plateia da trilogia Abnegação, principalmente no segundo espetáculo, saíram reclamando. Você tem medo das críticas do público?
ALEXANDRE DAL FARRA Não, acho que sou bem tranquilo com a crítica. Sempre me interessei por saber as críticas negativas, tentar entender em que medida elas fazem sentido. Escutar e ver: “Isso que o cara está falando, eu não concordo, mas tem uma parte que tem razão”. Demorou um tempo para eu conseguir ir moldando, entendendo. Hoje em dia, depois do Branco, tudo ficou tranquilo. Qualquer coisa que me aconteça é incomparável com o que aconteceu em relação ao Branco. Cheguei a um patamar de mais olhares discordantes em relação ao meu trabalho, uma postura violenta. Lá em São Paulo, o Abnegação II já tinha gerado um pouco disso para algumas pessoas muito conectadas ao PT. Um pouco porque é como as pessoas leem a peça, é o jeito de elas lerem, eu discordo. Mas são pessoas que sempre acham que quando você nega algo, você está pondo alguma outra coisa no lugar. Esse é um dos grandes xis da questão, algumas leituras que não são a leitura que eu faço, das minhas peças em geral e, principalmente, o Abnegação II e o Branco. É uma leitura que vê como se aquilo fosse uma afirmação, como se eu tivesse de alguma maneira defendendo algo. Como se sempre que você vai contra alguma coisa, tivesse outro intuito, uma estratégia. Tudo é lido com a força da destruição de negação, é lido como se tivesse alguma outra coisa que você está pondo no lugar disso, sabe? Se você está criticando um aspecto do PT, é porque você está defendendo o outro lado. E, no meu caso, não é uma defesa do outro lado, é só uma crítica realmente contundente de um aspecto que eu acho muito complicado. E daí sempre teve na história do PT uma dificuldade muito grande de lidar com as críticas dentro do próprio partido, né? Eu era do PCB, no PCB tinha muito essa ideia leninista, que se chama centralismo democrático. E é o quê? Dentro do partido, você fala o que você quiser: critica, briga, faz o caralho. Fora do partido, tem uma unidade de ação, uma estratégia. Depois da briga toda, você tira qual a postura, qual o discurso que tem que ter pra não deixar vazar nada das tretas internas. No PT, não se instaurou o centralismo democrático porque se tinha uma crítica muito grande ao PCB, criticava-se o centralismo democrático como uma coisa autoritária. Então, esse papo de “ai, gente, vocês estão fazendo essa peça no momento errado. Não é o momento de fazer crítica. Vocês vão dar munição pra direita”. Mas todos os momentos da história não foram momentos de fazer críticas. Não existe isso, você tem que ser capaz de fazer a crítica.
Branco, peça que estreou na MITsp este ano. Foto: Guto Muniz/Divulgação
CONTINENTE Abnegação atravessa dois momentos distintos da história recente do país. Antes do impeachment de Dilma, a recepção era uma, depois, você acha que é diferente?
ALEXANDRE DAL FARRA Curiosamente, acho que não mudou tanto. As críticas que se fizeram foram parecidas. O Abnegação II foi a peça mais vista, com que o público mais se envolveu. Foi o Antunes Filho (dramaturgo e um dos principais nomes do teatro no país), todo mundo foi ver. Mas não saiu nenhuma crítica, porque ela tinha uma delicadeza absurda de se colocar perante a peça. Se você falava a favor, era uma coisa. Se você falava contra, era censor. Então ninguém falou nada. E a peça não apareceu pra ninguém nesse sentido, mas ela foi a mais vista. Na época, já tinha uma galera que falava: “Não é a hora. Vocês vão fazer isso agora que o PT está nesse momento delicado?” E eu: “Nunca foi a hora, nem nunca vai ser”.
CONTINENTE Como você vê o teatro contemporâneo?
ALEXANDRE DAL FARRA O que vejo hoje em dia do teatro está rolando em São Paulo, vejo que tem uma certa tendência. Tem a ver com o que eu estava falando. Estamos muito acuados. Perdemos em todos os níveis. Sinto que as peças estão voltando para esse lugar que elas já tinham antes, que é também pedagógico. Um pouco assim: “Vamos falar a coisa certa. Vamos mostrar do que a gente discorda no mundo, vamos dizer que a gente não está de acordo com a opressão, que a gente não está de acordo com o racismo”. Um monte de obviedades que todo mundo já sabe. Nós já sabemos sobre nós mesmos, mas gostamos de ir ao teatro para escutar isso de novo, para ficar confirmando essas posições que já tínhamos desde antes. O teatro está virando isso. Ele está num momento muito frágil, muito complicado. Deixou-se de olhar e de suportar a ideia de um teatro que em algum momento foi possível, e não estou falando só do meu, que é um teatro de provocação. Um teatro que procura olhar para as coisas de maneira diferente e alterar o olhar que a gente já tem. O que me interessa, justamente, é um teatro que olha para nossas estruturas que são difíceis de romper, que não se nega a olhar para essas coisas que fazem a gente ser quem a gente é. Também acho que tem uma questão – que estudo no meu doutorado –, a da performatividade, entrando um pouco na ideia do contemporâneo, que cai nisso. Acho que ela nasceu como um movimento disruptivo, de violência, de tentativa de desestruturar certos ambientes, certas convenções. Atualmente, ela foi invertida e se transformou numa afirmação. Hoje em dia, tem a ver com falar em meu nome. Quando eu coloco lá performativamente, quase sempre estou falando por mim, não posso falar por mais ninguém. Essa ideia de estar ali, sendo quem você é e não fingindo que é outra coisa. Você realmente faz coisas em cena, não finge que faz. Por isso que cozinhar é um chavão da performatividade, porque você não finge que está cozinhando, você cozinha mesmo. O tempo do cozimento é o tempo real, ou seja, o palco é invadido pela realidade em si. Hoje, isso está sendo quase sempre lido como: “Estou aqui mesmo para afirmar o que eu sou” e não como uma força disruptiva do real que desestrutura um ambiente de linguagem. Esse ambiente já está estabelecido, já existe espaço para a performatividade. A minha relação com o Branco e algumas divergências que tenho com algumas leituras do espetáculo têm a ver com isso. A performatividade que o espetáculo coloca não é afirmativa. Quando se lê que necessariamente haver brancos em cena é uma afirmação de que brancos devem estar em cena, aí a peça não é legível do jeito que acho que ela deveria ser, porque colocar brancos em cena talvez tenha a ver com destruir o lugar do branco e não com construir. Mas esse olhar que é muito afirmativo impede de ler a destrutividade.
Dal Farra em entrevista à Continente no Teatro Arraial. Foto: Flora Negri
CONTINENTE É possível fazer teatro sem falar de política?
ALEXANDRE DAL FARRA Acho que o teatro é político, mas ele não é uma arena de defesa de posições políticas, é um outro espaço. O de um deputado, o de um jornal ou sei lá o quê, você está divulgando suas posições pra conseguir ganhar espaços. Não acho que o teatro seja um lugar de divulgação de posições. Isso é reduzir ao máximo a potência que ele tem, que é justamente a de problematizar e pegar coisas, que não são para você ficar falando lá fora.
CONTINENTE Para você, escrever é um processo terapêutico, doloroso, tranquilo…
ALEXANDRE DAL FARRA Não é doloroso. Acho que é uma expressão de coisas dolorosas, mas tem o prazer justamente de brincar com isso de uma maneira que não é a mesma. Não deixá-las paradas no mesmo lugar como um tipo de tabu. Me atrever a pegar nisso. O Agamben tem uma imagem que acho muito boa sobre quando o gato brinca com o novelo de lã. Na verdade, ele está pegando um instinto dele, que é de matar. Porque o gato, quando caça, pega o bicho e começa a jogar. Com o novelo de lã é o mesmo gesto de morte e ele transforma em jogo. Não tem finalidade nenhuma, ele não vai comer. Nesse processo tem algo de libertador, porque aquilo que você tem e que estava muito atrelado a algo com uma finalidade específica; de repente pegá-la e botar no palco, aquilo não serve pra nada. Então, isso dá um prazer.
CONTINENTE O que vem a ser Fogo no altar, essa parceria com Pedro Vilela, na qual vocês têm como ponto de partida as igrejas neopentecostais?
ALEXANDRE DAL FARRA Eu vim ao Recife, fiquei um pouco, a gente conversou, demos um rolê, fomos ao culto… Conheci o Pedro e um pouco do que ele estava pensando, os cultos que ele conhecia e voltei para São Paulo. De lá, escrevi umas coisas, mandei para ele. Tira isso, bota isso aqui e escrevia de novo. Depois, ele foi para lá e a gente trocou ideias. Só agora voltamos a nos encontrar e fomos para a cena, depois de um ano e meio. Então, foi esse processo sui generis. Fazer uma peça sobre pastor, sobre igreja pra em cena ficar descendo o pau nesses caras? O ponto de partida é essa estrutura de mau caratismo e enganação, mas tem um território que é o da fé. Essas pessoas estão indo lá por fé. Elas investem naquilo como se fosse sagrado, têm essa capacidade de alguma maneira de investir a fé deles em alguma coisa. Você pode ler isso simplesmente com superioridade. Não é isso, o ópio é o que te faz ficar inerte, o que te permite também suportar a vida. Por outro lado, não tendo religião, o que a gente tem? Uma grande vida na imanência, de pensar no direito que eu tenho, na comida que tenho que fazer, na minha mulher, na conta que tenho que pagar.
CONTINENTE Você disse que é “fé zero”. Mas então, o que o ajuda a seguir a vida?
ALEXANDRE DAL FARRA Psicanálise! (risos) Eu sou muito otimista na vida, é muito diferente do teatro.
ERIKA MUNIZ, formada em Letras, estudante de Jornalismo e estagiária da Continente.