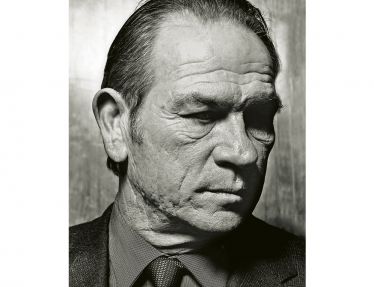Gordofobia
Numa sociedade que cada vez mais se afirma pela intolerância, estar acima do peso convencionado como “normal” cai sobre o indivíduo como uma sentença
TEXTO Luciana Veras
01 de Julho de 2015

Com seu trabalho, a fotógrafa Substantia Jones atua contra a lipofobia
Foto Substantia Jones para www.Adipositivity.com/Divulgação
"Visto GG, você P
Você P, eu GG
Redondo, quadrado e reto
Cada um tem seu formato
Apertado, colado, justo
Largo, folgado, amplo, vasto
Cheio, graúdo, forte, farto
Esguio, fino, compacto."
(Proporcional, Tulipa Ruiz)
Na primeira estrofe de uma das 11 canções do álbum Dancê, a cantora Tulipa Ruiz narra um encontro hipotético que, sem dúvida, se revela corriqueiro nas interações cotidianas das metrópoles do Brasil e do mundo. Alguém de porte mais esguio conhece uma pessoa mais… que palavra seria melhor aplicada aqui? Abram-se alas à sucessão de eufemismos: “forte”, “cheinha”, “redonda” e “grande”, até chegar a um adjetivo que, cada vez mais, assume tons de xingamento ou até mesmo maldição: “gorda”. Nos versos de Proporcional, a compositora paulistana oferece uma conclusão cuja obviedade – “cada um tem seu formato” – em nada diminui sua precisão. Sim, cada um tem seu formato; em tempos de culto exacerbado ao físico, entretanto, e da perpetuação de normas de representação do corpo que negligenciam justamente as diferenças de cada espécime único da raça humana, estar acima do peso é uma sentença.
Uma sociedade lipofóbica, afinal, é esta da atualidade, a excluir os mais pesados ou submetê-los a constrangimentos diários, dos quais nem os mais afortunados fogem. A modelo norte-americana Tess Holiday, 29, é uma delas. Descrita em reportagem publicada no The Guardian, no início de junho, como “a primeira modelo tamanho 22” (na escala de conversão, com relação a vestidos e saias, o tamanho 22 nos Estados Unidos corresponderia ao 50 brasileiro), ela parou o trânsito do Brooklyn, uma das mais populosas vizinhanças de Nova York, ao trajar lingerie para a sessão de fotos do jornal britânico. “Nunca viram uma garota gorda em sua roupa de baixo, né? Pois então continuem dirigindo, idiotas”, gritava para os motoristas que freavam seus carros a fim de testemunhar a cena.
A visão de uma jovem mulher de biquíni em uma piscina ou na praia, de uma adolescente de jeans apertado e blusa colada no metrô ou de um homem a se exercitar na esteira não deveria, em tese, ser capaz de provocar cataclismos, como convulsionar o tráfego ou gerar reações de ódio e intolerância nas plataformas de convivência cibernética. Mas assim é a rotina de quem vive atrelado aos rótulos derivados da obesidade. “A sociedade é feita para quem tem até 70 quilos, como vemos na cota de um elevador. Passou disso, já é preciso se adaptar de alguma forma para exercer seu papel dentro dos padrões do dia a dia”, observa a antropóloga catarinense Elaine Müller, professora do Departamento de Antropologia e Museologia da Universidade Federal de Pernambuco/UFPE.
A modelo norte-americana Tess Holliday parou o trânsito de Nova York ao posar para fotos em lingerie. Foto: Divulgação
Que padrões seriam esses? Ela cita a recente divulgação em veículos da imprensa norte-americana, como GQ, New York Magazine e Washington Post, do ideal do dad bod (corruptela de dad body, ou “corpo de pai”, em tradução livre). A partir de um artigo escrito por uma universitária de 19 anos chamada Mackenzie Pearson, e publicado em 30 de abril de 2015, irrompeu a teoria de que as mulheres preferem os homens que exibem a “barriga de chope”, no lugar do abdômen sarado. “O corpo de um pai talvez seja menos questionado do que o corpo de uma mãe, porque sobre a mulher incide uma pressão maior. Também aí vemos uma questão de gênero: a mulher é educada para agradar, estar apresentável, servir ao homem, ser mãe impecável, saber se maquiar e não deixar o peso se consolidar no seu corpo. Mas o corpo, independentemente de gênero, é falível. É preciso aceitar as transições da vida, algo que parece impossível nos tempos de uma sociedade publicitária e gordofóbica”, complementa Müller.
MEDO, REPULSA
Em FilmeFobia (2008), o cineasta mineiro Kiko Goifman subverte as convenções cinematográficas, ao aniquilar as fronteiras entre ficção e documentário para falar de “medos desproporcionais” – os atores, liderados pelo pesquisador, escritor e intelectual Jean-Claude Bernardet, confrontavam-se com suas fobias de botão, escuro, palhaços e sangue, para comprovar a teoria de que “a única imagem verdadeira é a do ser humano diante de sua fobia”. “No filme, trabalhei com a ideia do medo irracional, pois um fóbico que teme cobras, por exemplo, tem medo da foto, que não vai lhe atacar. A repulsa ao gordo é mais preconceito do que medo. Porém, o que me assusta é a noção de que há uma fobia a um ser humano, o que é muito mais pesado do que ter fobia de rato ou de botões, ainda mais dentro de um ideal de perfeição, que é velho. Não há sentido em pensar o corpo como escultura”, pondera Goifman, um antropólogo de formação.
Ele também delibera sobre “a barriga do amor e da cerveja que a sociedade machista permite ao homem”. “Há uma questão de preconceito, de tentativa de enquadrar em padrões e de reforçar estereótipos. Não somente pela mulher que, diante do machismo, tem que ser de um determinado jeito, mas porque é preciso que as pessoas sejam diferentes, gordas, magras, altas, baixas. Na perspectiva de se querer e se exigir um ser humano ideal, o limite é sério. Todos nós sabemos a que isso nos levou no século passado: à eugenia do nazismo”, contextualiza o diretor.
Indagado a respeito do antissemitismo em uma entrevista de 1992, o escritor soviético Joseph Brodsky (1940-1996), Nobel de Literatura em 1987, ele mesmo um cidadão do mundo que se descrevia como poeta russo, ensaísta inglês e cidadão americano, resumiu ao jornalista e romancista italiano Alain Elkann: “É, acima de tudo, um preconceito. As pessoas possuem muitos preconceitos e são alimentadas pela insatisfação que sentem com suas próprias realidades. Os problemas concretos vêm à superfície quando alguém transforma o preconceito em um sistema”. Ele aludia, claro, a um tipo de preconceito mais enraizado. No entanto, à luz do que ocorre hoje, sua linha argumentativa poderia englobar as experiências de quem padece sob a patrulha lipofóbica e sofre as consequências de um sistema em cujo seio qualquer obeso é um degenerado.
Kiko Goifman, realizador de Filmefobia. Foto: CIA de Foto/Divulgação
“Acredito que as pessoas tendem a minimizar a natureza problemática do sizeism”, situa a fotógrafa norte-americana Substantia Jones, criadora do The Adipositivity Project, em que registra a intimidade – com nudez, delicadeza e sensualidade – de mulheres gordas. Sizeism é um termo em inglês que equivale a racism e sexism; assim, poderia ser traduzido como “tamanhismo”. Junto ao racismo e ao machismo, forma a tríade que sustenta condutas misóginas. Adipositivity, neologismo que alia as palavras adipose e positivity (adiposo e positividade, respectivamente), surge para combater tamanha hostilidade.
Jones crê que o “tamanhismo” é subestimado, porém opta por não se “engajar em competições políticas de hierarquização das opressões”. “Prefiro me certificar de que as pessoas com quem falo entendam que está tudo embaixo do guarda-chuva da intolerância. Nossa cultura demanda que as pessoas gordas sejam aceitas apenas se elas estiverem sempre se desculpando ou tentando, arduamente, alterar seus corpos. Quando, em vez disso, nós nos posicionamos a favor de nós próprios, lutamos pelos outros, nos vestimos de modos que muitos considerariam não aconselháveis e ousamos amar e respeitar nossos corpos, as pessoas normalmente se sentem com razão para nos ridicularizar e nos xingar”, pontua em entrevista à Continente.
O que ela prega é a educação. “Até mesmo algo tão simples como definir o que é intolerância, para essas pessoas, pode levá-las na direção de um pensamento mais claro e evoluído e, também, no caminho de mais amor pelo corpo do outro”, ratifica Substantia Jones. A chave está tanto na luta por um olhar mais generoso de fora como no mergulho em si mesmo – o que implica atenção irrestrita ao que se fala corriqueiramente. “Precisamos ficar cientes das agressões no nosso linguajar. A palavra ‘gordo’ é uma descrição moralmente neutra, e não implicitamente pejorativa. Encorajo as pessoas a usá-la quando possível. ‘Sobrepeso’, contudo, é uma palavra de julgamento a sugerir que existe uma norma tácita que não deve ser excedida. E ‘obeso’ patologiza um estágio naturalmente passível de ocorrer na escala de uma variação benigna de tamanho humano. Muitas pessoas bem-intencionadas cometem esses erros, mas isso gera consequências. É fundamental reconhecer a importância da visibilidade para aqueles que precisam criar o próprio caminho de se visibilizar”, afirma a fotógrafa.
Filmefobia, de Kiko Goifman, aborda "medos desproporcionais".
Foto: Cris Biehembach/Divulgação
TORNAR LEVE
A intérprete paranaense Simone Mazzer narra um pouco à Continente sobre como tem lidado com essas questões. “Sou uma pessoa grande, de 1,73 m, pesada e grandona. Assusto mesmo. Quem não me conhece, se me vir entrar num ônibus, vai pensar ‘ai, meu Deus, e se vier sentar ao meu lado?’ Desde criança, passei por várias fases. Quando eu era menor, foi tabu para mim. Era uma coisa de família não comentar a respeito, tratar como um problema. A vida foi me ensinando a deixar tudo mais leve, no sentido literal da palavra. É claro que sinto, sim, o conflito social da gordura, da pessoa gorda ser vista como relaxada e preguiçosa, ou tudo isso e ainda doente, como se não houvesse nada positivo aliado aos obesos. Tive que aprender a lidar com isso e, hoje, na minha profissão, consigo driblar”, diz a atriz e cantora.
A metáfora do drible futebolístico abrange, não por acaso, a ginga para transcender de problemas triviais a momentos de ódio. É difícil para ela encontrar roupas em lojas convencionais. “Sofro bastante. Não acho fácil e parto para meu lado criativo, tentando me associar a pessoas na área da moda que possam criar meus looks. Assim, com amigos e parceiros estilistas e costureiras, vou inventando um figurino que se encaixe em mim. Em loja de departamento, é impossível. A seção extra-grande não cabe, o que antes era plus size, agora é quase PP”, comenta. A liberdade de ir à praia, algo que ela sempre prezou, em especial ao longo dessas duas décadas morando no Rio de Janeiro, é combustível para que reafirme uma postura de segurança e amor-próprio. “Nunca me incomodei com as pessoas me olhando. Se elas se incomodam comigo, gosto de pensar que estamos no lugar mais democrático do mundo, aonde todo mundo pode ir”, coloca.
Foi na praia, contudo, que Simone Mazzer e o marido se viram reféns de uma manifestação de perversidade. “Ao passarmos o réveillon no litoral, ouvi xingamentos horrorosos e extremamente grosseiros de uma turma de adolescentes. Eram frases muito violentas, vindas de pessoas jovens com uma mentalidade tacanha e preconceituosa. Estamos em 2015, como pode isso ainda acontecer? Vivemos um problema triste sobre um tema que não é tratado como se deveria. Homofobia, violência contra as mulheres, racismo, tudo entra em pauta, o que é bom, mas a verdade é que o mundo não está fácil para ninguém”, lamenta Mazzer.
A intérprete Simone Mazzer tem clara a trajetória de preconceitos que sofre
desde a infância. Foto: Simone Portellada/Divulgação
EXIBIÇÃO COIBIDA
Confrontado com os excessos de um corpo gordo, o cidadão preconceituoso vê desestabilizada sua noção de normalidade – construída a partir da mídia, da televisão, do cinema – e assim resolve agir de modo a coibir essa exposição. “Na sociedade em que vivemos, o corpo deve refletir o autocontrole e o equilíbrio do sujeito. O corpo obeso vem como se fosse uma ameaça à proporcionalidade que a cultura exige. Tudo que foge aos padrões ameaça a ideia de autocontrole. Essa pouca recepção ao corpo obeso, desde as formas de acessibilidade básica às capas de revista e à mídia, tem a ver com um modelo de saúde. As pessoas gordas rompem com esse ideário vendido na contemporaneidade. Assim, vemos a institucionalização da opressão ao corpo obeso, das formas mais sutis até as mais ostensivas. Isso tem a ver com essa aversão ao excesso do corpo. Acontece que, como seres humanos, somos faltantes, incompletos, nunca perfeitos”, elabora Roberta Mélo, professora de Educação Física da Universidade do Vale do São Francisco/Univasf, em Petrolina.
Seu enfoque sociológico, decorrido do mestrado e doutorado obtidos em Ciências Sociais na UFPE, com estudos sobre cirurgias cosméticas malogradas, investiga as origens dessa repulsão. “Há uma divergência entre os próprios historiadores sobre a patologização da obesidade, um atributo físico que sempre teve diversas interpretações culturais e históricas. No Renascimento, as musas eram corpulentas; ser gorda era atributo de feminilidade. Era uma qualidade também atribuída aos líderes religiosos e espirituais, a exemplo de Buda. Já em meados o século 17, a obesidade começa a ser vista como algo negativo, como a desarmonia do corpo. O corpo obeso, visto com escárnio na atualidade, ameaça a beleza de uma construção ética, moral e religiosa. A ideia de felicidade é o último estado emocional que se associa ao corpo obeso”, exemplifica Mélo.
NUDEZ PERFORMÁTICA
Na contramão das expectativas, e a cumprir o papel revolucionário da arte, desponta uma ideia de felicidade nítida e corajosa na série A natureza da vida, fotografias de performances empreendidas ao longo dos últimos 15 anos pela artista paranaense Fernanda Magalhães. “A ação é simples: ir a um lugar público e posar para fotos e vídeos nua, sem pedir autorização. Chego com um fotógrafo, defino tudo na hora e a ideia é nunca ser presa, então passo no máximo cinco minutos sem roupa. Além da ocupação do espaço, há a surpresa natural, porque não é uma mulher gostosona fazendo aquela foto. Se fosse, seria uma propaganda. Como se trata de uma mulher gorda, as fotos e vídeos geram um estranhamento, que aumenta porque faço a provocação de pensá-las quase como se fossem um editorial de moda”, conta. Da primeira imagem, registrada no Central Park, em Nova York, aos instantâneos feitos em Londrina, sua cidade natal, Fernanda se despiu nos Jardins de Luxemburgo, em Paris, no Mar Negro, na Rússia, em Montevidéu, no Uruguai, e ainda em Vitória, Fortaleza e Campinas.
A artista Fernanda Magalhães realiza ações em que é fotografada nua em ambientes públicos. Foto: Eliza Prata Viera/Divulgação
Para ela, as fotografias, o uso do corpo e sua própria constituição física são “absolutamente políticos”. “Michel Foucault é uma referência importante para mim, porque fala de como a perfeição utópica com relação ao que seria essa imagem de um corpo perfeito trata-se de uma forma de controle. Tentando atender a essa demanda, as pessoas vão ser manipuláveis. Ao mesmo tempo, A natureza da vida, com suas imagens simples e nada rebuscadas, é política, porque nela tenho a liberdade de mostrar meu corpo como ele é. Há questões políticas nessa cultura absurda de repugnância ao corpo gordo. É como se o mundo não fosse feito para você, para pessoas maiores, como se o corpo gordo fosse doente e a culpa fosse sua porque seu corpo não atinge essa perfeição”, legitima a artista.
Em 1995, com a pesquisa A representação da mulher gorda nua na fotografia, ela recebeu o 7º Prêmio Marc Ferrez de Fotografia do Ministério da Cultura/Funarte, o que resultou na aquisição de 20 trabalhos seus pela Maison Européenne de la Photographie, na França. Desde então, abraçou a temática que se desdobra agora em outras séries. Fernanda Magalhães compreende que seu trabalho é “para a vida inteira”. “É uma política que se expandiu para pensar o corpo da mulher junto a questões de diversidade queer, de gênero, do corpo abjeto. Quando comecei, ninguém falava muito sobre isso, quanto mais se colocar como corpo e se expor ao público”, recorda.
Em As consciousness is harnessed to the flesh, segundo volume dos seus diários, ainda inédito no Brasil, a escritora, ensaísta e fundamental pensadora da cultura contemporânea Susan Sontag (1933-2004) esboça, numa anotação de 1975: “Não é o que você faz, é o que você é”. Em O filho de mil homens, datado de 2011, o escritor luso Valter Hugo Mãe resume: “Ser o que se pode é a felicidade”. Como breves aforismos, tais frases iluminam o debate sobre lipofobia. O que fazem milhões de pessoas julgadas como “gordinhas”, “cheinhas”, “redondas”, “grandes”, “baleias” e “obesas” e escanteadas pela imposição de uma armadura comportamental? Tentam ser felizes e respeitadas, com o que são e podem ser, nunca com o que delas esperam estanques e anacrônicos códigos de aparência. ![]()
Leia também:
"Subverter a fotografia é eficaz para visibilidade de pessoas gordas"
As representações ideológicas do corpo