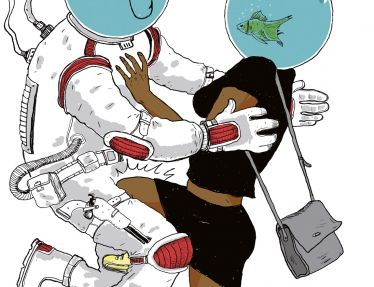
Variações sobre o intruso partido: Campos de Carvalho
Uma análise profunda do legado do escritor, falecido em 1998
TEXTO GUILHERME GONTIJO FLORES
ILUSTRAÇÕES KARINA FREITAS
01 de Março de 2021

Ilustração Karina Freitas
[conteúdo na íntegra | ed. 243 | março de 2021]
contribua com o jornalismo de qualidade
eu estava a cavalo sobre mim mesmo,
era um centauro.
(André, em A chuva imóvel)
Amo o mistério, para mim só tem sentido o que não tem sentido. Mas que coça, coça.
(Crônica, no Pasquim)
“Comecei a escrever muito tarde, 40 anos.” Essa é uma mentira das boas, mas convenhamos: poucas estreias na literatura têm o impacto e a capacidade de produzir tantos aficionados quanto A lua vem da Ásia, romance publicado em 1956. Eis as primeiras palavras, que muita gente por aí guarda de cor:
“Aos 16 anos matei meu professor de lógica. Invocando a legítima defesa – e qual defesa seria mais legítima? – logrei ser absolvido por cinco votos contra dois, e fui morar sob uma ponte do Sena, embora nunca tenha estado em Paris.”
Impressionam essas primeiríssimas linhas da obra alucinante e lunática de Walter Campos de Carvalho, que, pelo assombro provocado, poderia se comparar a Une saison en enfer de Arthur Rimbaud, pra ficarmos num só exemplo entre os grandes. É uma estreia que impressiona ainda mais por não se tratar de estreia, já que era o terceiro livro a ser publicado em sua carreira*, que agora moldava retroativamente seu percurso do zero. Ora bolas, podemos dizer: Rimbaud também não estreou na estreia, mas muito antes, nas cartas a Verlaine e outros, nas revistas e jornais, com sonetos e poemas que ele próprio nunca viria a publicar em livro!
Que seja, afinal, é Campos de Carvalho quem descreve a situação de nova estreia em uma carta a Carlos Felipe Moisés, de 22/1/65:
“Peço-lhe que guarde sem ler o exemplar de Tribo que você diz ter encontrado. Minha literatura começa realmente com A lua vem da Ásia (…) Se ainda coloco Tribo na relação de minhas obras é apenas por honestidade para com o leitor, o qual sempre me mereceu o maior respeito.”
Manipulador contumaz das próprias falas, Campos de Carvalho apresenta duas observações irônicas nesse trechinho: a primeira é uma dupla negação, pois pede para que Carlos Felipe Moisés não leia o livro Tribo, como se este fosse sua estreia, enquanto silencia completamente sobre a existência de Banda forra, a primeira estreia em livro; a segunda é o tal “respeito ao leitor”, que ele parecia não guardar com tanta veneração, já desde o mesmíssimo Banda forra, quando, num tom de falsa captatio benevolentiae, assim escrevia, com sua sintaxe tipicamente rebuscada:
“E com tão pouco de sua parte, ter-se-á por muito contente se, ao fim de tudo, o leitor o tiver em melhor conta do que aquela em que ele sempre teve o leitor.”
Sim, mesmo no fracasso da publicação, o sucesso é que o leitor o visse um pouco melhor do que ele via o leitor, se é que o via de fato. Não é o único descaso explícito, ou melhor dizendo, uma relação via descaso com os leitores. Também a orelha de Tribo assim apresentava a função da escrita:
“Escreveu-o o autor sem qualquer plano preconcebido – no ônibus, nos cafés mais infectos, até no meio da rua – pelo prazer único de conversar consigo mesmo já que lhe faltavam confidentes com os quais pudesse trocar ideias ou simplesmente combater o próprio tédio.”
Em Campos de Carvalho, o leitor aparece mais como suplemento fracassado da interlocução, como aquele que deve ser lançado numa deriva para se virar no caos da escrita, que, numa ameaça solipsista, pode entornar o caldo. É esse pseudodescaso inicial –intrusão no leitor desavisado – que faz seu toque de gênio, junto com o prazer da contradição naturalizada, tal como duas falsas largadas que anunciam a terceira, esta, sim, a primeira.
***
Em toda obra de Campos de Carvalho algo da ordem da intrusão não para de se dar. As coisas se deslocam, os sujeitos parecem ser eles próprios deslocados, do mundo e de si. São intrusos e, ao mesmo tempo, partidos, personas cindidas; sujeitos partidos porque intrusos. E, neste caso, “partido” assume dois sentidos: aqui tudo parte para outro lugar, que é por sua vez deslocado, como se rumássemos para um lugar que não para quieto, porque o próprio espaço está em movimento. O narrador do conto Os trilhos bem resume esse efeito: “Estou sempre chegando a um lugar novo, mesmo em ruínas”. Quem é esse intruso em ruínas, o sujeito ou o lugar?
Intrusão vem do verbo em latim intrudere, que é algo como “impelir/estocar para dentro”, num movimento violento e súbito. Sujeitos se introjetam num espaço que, por sua vez, não para de se introjetar nos sujeitos, em um deslocamento contínuo que faz com que as coisas do mundo apareçam sempre no inesperado. E absolutamente nada impede que um intruso se revele apenas muito depois do acontecimento, como ao revelar uma foto tirada em filme. Campos de Carvalho nos conta, numa crônica ao Pasquim, como se factual em sua vida, o seguinte caso:
“Tenho uma fotografia minha saindo da catedral de Toledo com um ramo na mão. Até aí nada demais – mesmo porque não há lei nenhuma proibindo ninguém de sair à rua com ramo na mão, muito menos perto da catedral de Toledo. O diabo é que, no caso, eu não trazia nada na mão, nadíssima, e o fotógrafo simplesmente fotografou o invisível.”
Esse homem que segura e mostra um ramo que nunca teve nas mãos, contradição estanque e manifesta como uma chuva imóvel, poderia ser o resumo de toda uma vida.
***
A segunda estreia – em qualquer ordem que se leia —– vem logo antes da primeira, com Tribo. A abertura é uma pequena pérola quase desconhecida, porém que nos dá uma ideia dos santos da casa de Campos de Carvalho. Assim começa o primeiro capítulo, intitulado Ego. Alter Ego.
“Sou filho único de uma família de nove filhos. Meu país tem cinquenta e tantos milhões de habitantes, mas sou o único a habitá-lo.
Dito isto, penso ter dito o essencial sobre o meu caráter. Meus irmãos são Nietzsche, César Bórgia e Gilles de Rais (O Marquês de Sade era meu tio por afinidade, mas minha nobreza não provém dele nem de qualquer outra nobreza externa). São vários os meus primos: Léautaud, Casanova, Byron, Fernando Pessoa, Montaigne, Andreiev, Aloysius Bertrand e tantos outros cuja lista é maior do que eu mesmo quisera.”
Como em tudo que escreve, é difícil saber quanto da primeira pessoa autoral coincide com a persona biográfica do autor, no entanto a lista de autores e figuras históricas o coloca do lado dos subversores da moral cristã. Esse humor violento vai durar por toda a escrita, como vemos numa crônica, quando afirma que: “entre ser professor de qualquer coisa ou ser lobisomem, é claro que prefiro este último”.
A ironia das obras funciona então como máquina de guerra aniquiladora: o vazio dos escombros servem como pedras para derrubar os poucos muros que restaram de pé. O ego é já cindido em alter ego desde o início; ou seja, todo ego em Campos de Carvalho é já alter, outro, alterado em relação a um fundo indiscernível, como se a origem viesse rasurada para dar lugar a variantes que vão fazendo uma elipse em torno do núcleo zerado. Não à toa, em outra crônica publicada no Pasquim, escreveria: “Já não sou eu mesmo, nunca fui eu mesmo: o espelho me projeta ao infinito e ao nada”. O jogo da ficção é a matéria própria da carne e da vida. Ele próprio assume como sua a loucura em deriva alheia: “Não pareço com nenhum (dos personagens), sou louco à minha maneira”. Afinal, só é doido quem não é. Assim poderíamos terminar o chiste que ele próprio não explicitou: alter ego, sim: Walter ego.
***
É deveras curioso perceber como grande parte da crítica literária insiste em entrar no barco furado dos autores, em comprar um peixe manjado como se fosse peça única no mercado. Campos de Carvalho renegou dois livros publicados, sim, é um direito dele; porém assim seguimos e, como observa Geraldo Noel Arantes, um estudioso dedicado à obra do nosso autor, quase sempre creditaram a ele apenas as quatro obras autorais que, paradoxalmente, lançam duas obras assinadas no limbo da desautoria. Desautorizados, pobres livros, são e não são de Campos de Carvalho: são como notas de bibliografia, deixam de ser como objeto de leitura, estudo, reflexão, experiência. A tarefa da crítica, por outro lado, longe de ser a de ler e endossar o discurso autorizado, e muito menos a de se tornar uma mera avaliação que separa o joio do suposto trigo, é ler na contramão, against the grain, contra a corrente do autor. É na desleitura do desautorizado que aparecem continuidades imprevistas ou empurradas para debaixo do tapete, em ações subterrâneas que desfazem os cortes aparentes e saltam como novos laços, ou mesmo escadas de Wittgenstein, só que feitas a posteriori.
Fico aqui com um exemplo inquietante: Campos de Carvalho escreveu quatro pérolas em menos de uma década, depois, como bom imprevisível que era, largou a pena e foi cuidar de suas batatas, ou melhor, das papeladas da vida burocrática e comportada que ele mesmo tanto zombava nas obras. Seguiu lá um certo caminho drummondiano de tocar a vida adiante com emprego estável e resguardo da vida pública (embora Drummond sempre tenha produzido muito); mais ainda, fez como outro mistério nosso, Raduan Nassar, que também escreveu duas obras-primas e foi literalmente plantar tomates. É uma descontinuidade que fere todos os brios que temos da imagem de um escritor nato, que escreve para viver, e não para pagar as contas, ou que tem na escrita uma missão até a morte.
Basta abrimos uma página de Tribo, encontramos a persona, ainda no começo, que já anuncia a descontinuidade como projeto literário e vital:
“Quero que cada livro meu seja uma etapa vencida, um marco já sem nenhum valor para o meu voo futuro, embora o abismo seja sempre o mesmo, em cima e embaixo. Se possível, não voltarei a reler-me nunca, para evitar o meu próprio plágio, que seria o mais triste de todos porque o mais fatal à minha consciência. Se estou procurando libertar-me da minha pele, como jungir-me ao que fui ontem e escrevi ontem, eu que nunca sou eu mesmo senão num momento dado, que é o momento presente? Cada palavra que escrevo é uma depuração que faço dentro de mim mesmo e que traz o peso daquele instante determinado em que foi escrita: parece-me muitas vezes estranha e inepta no dia seguinte, quando já sou um outro.”
Poderíamos dizer, sem medo, que o autor escreveu isso, por exemplo, em 1968, alguns anos depois de largar seu último romance, mas é de 1954, dois anos antes de A lua vem da Ásia. A poética da intrusão (e aqui intrusão em si mesmo, na própria continuidade de uma suposta obra unitária) está então completamente anunciada antes do corte brusco que vem gerar a estreia no terceiro livro. Donde a verdade de sua estreia, bem como a verdade do percurso dos quatro romances e, mais que tudo, a verdade do fim da escrita. Cada peça abole todas as outras, mesmo que com elas se relacione; assim como cada personagem-narrador é uma espécie de intruso no mundo (o cindido, o louco, o maníaco, o depressivo, o desmiolado, o forasteiro em tudo etc.): cada nova obra é um intruso na obra, porque a desmonta e desvincula da suposta continuidade. No limite, vamos dizer que Campos de Carvalho fez em vida seis estreias em livro e uma no inescrito, todas absurdamente geniais.
O jogo da crítica neste caso seria então, assumindo cada estreia, retraçar o rastro esquivo do contínuo, montar elos ali mesmo onde se erige alteridade, fazer um convívio instável de impossíveis. Não apenas constatar mecanicamente, como o próprio autor em entrevista, que Tribo “tem muita coisa que foi retrabalhada no A vaca de nariz sutil e no A chuva imóvel. Mas eu não me reconheço mais nele”. Isso seria o banal: ver o que o autor já vê a ponto de afirmar com todas as palavras. Mais pertinente é observar como o intruso que por tudo se espraia é um modelo, perverte tudo que toca, ameaça uma carreira de humor (A lua vem da Ásia, um dos romances mais hilários da língua) e descamba para o peso do cemitério, do sexo, do estupro (A vaca de nariz sutil) e mesmo do suicídio (A chuva imóvel, o conto Os trilhos e a novela Espantalho habitado de pássaros), apenas para terminar num riso ainda mais desbragado (O púcaro búlgaro, outro talvez dos romances mais hilários da língua).
Walterado: o alterado adiado. Só que autoficção aqui não é usar dados da vida para produzir uma narrativa, e, sim, afirmar como ficção a própria vida: “Minha literatura sou eu”.
Por exemplo: já falaram muito sobre o surrealismo de Campos de Carvalho, e podem até mesmo alegar o que ele diz na clássica entrevista a Mário Prata e Sérgio Cohn para a Azougue, em 1997: “eu me tornei um escritor surrealista”. Surrealista? Disparate, não há nada de surreal ali, fora a vertigem da mente, as possibilidades alucinantes de levar a linguagem a sério, porque ela serve para rir da vida e arrasar com a vida. Já se falou muito também da graça dos romances de Campos de Carvalho, sem perceber o peso imenso de cada gargalhada – e nada há do clichê do palhaço triste, mas, sim, de uma faca que gira e gira e gira. Por isso a possibilidade de, num conjunto, variar da gargalhada ao horror. Um riso avassalador que, no fundo, no fundo, é aniquilador.
***
A intrusão que estou aqui propondo como modo de vida e poética é também um modelo tradutório possível, afinal, todo tradutor invade e altera o terreno por onde passa, fazendo desse movimento uma operação crítica. Isso quer dizer que as alterações, deformações, substituições, subtrações que um tradutor faz – até mesmo o tradutor cleptomaníaco imaginado por Dezső Kosztolányi – representam uma resposta ao texto como ação no mundo. Longe de levar e trazer, o tradutor vai fazendo coisas com o texto que traduz, tornando-o outro porque tornando-o próprio. Vejam bem, o tradutor faz com que o texto seja outro do outro, e nunca próprio do próprio; esse é o paradoxo. Uma passagem hilária d’O púcaro búlgaro, que à primeira vista poderia ser lida como pura piada nonsense, explicita esse modelo:
“Isso me lembra um incunábulo que vi certa vez na Biblioteca do Vaticano, do século XIII ou XIV, se não me engano, e que trazia este título (em latim) bastante sugestivo: “NO QUE PENSAM OS ADOLESCENTES QUANDO NÃO ESTÃO PENSANDO EM SEXO?”. Suas quatrocentas e tantas páginas vinham em branco naturalmente, um pouco amarelecidas pelo tempo, e só no final se lia a advertência FINIS, em belas letras góticas. Propus a tradução de obra tão erudita a um editor de Florença, mas como ele não concordasse em suprimir aquele tópico final, que me parecia uma excrescência, a ideia não foi avante.*”
O asterisco nos leva à nota de rodapé do romance:
“*O título exato da obra, atribuída ao célebre humanista florentino Niccolo de’ Niccoli, é: Aquilo em que, 60 minutos por hora, 24 horas por dia, 30 dias por mês e 12 meses por ano pensam os adolescentes, as crianças e as criancinhas quando não estão pensando em sexo. Existem pelo menos duas traduções conhecidas, uma para o venezuelano e outra para o volapuque, sendo esta última bastante incompleta, sem o título e a advertência final.”
(Nota do Editor.)
Reparem que o Autor comenta, muito lucidamente, que considera natural as 400 páginas em branco para responder “no que pensam os adolescentes quando não estão pensando em sexo”. Nada, e a nossa condição, diante da ausência do sexo. O problema para ele está na inscrição final, FINIS, que designa o fim em latim; fim da obra, por certo, porém lido pelo Autor como uma inscrição que altera o sentido da obra e lhe tira força, como excrescência. Afinal, poderíamos concluir, o não pensamento não tem fim, ou então, a ausência de pensamento sobre qualquer outra coisa além do sexo não se encerra quando volta ao sexo, porque nunca houve em primeiro lugar. Essa mesma tópica do fim do inexistente aparece outras vezes ao longo d’O púcaro búlgaro, por exemplo, com o risco de que um homem inexistente venha a descobrir um país existente, ou mesmo inexistente; porém não é aqui o ponto.
Interessa que o Autor se torna, mesmo rapidamente, Tradutor de uma obra conceitual (quase) sem palavras e propõe sua obra a um editor florentino com um ajuste crítico-tradutório: a remoção de FINIS, ou seja, sua tradução do latim ao nada, que poderíamos chamar de português. Porém, como muito se vê no mercado editorial, a proposta de supressão da excrescência é ela própria suprimida, e o projeto da grandiosa tradução vai por água abaixo. Diante da suposta facilidade de traduzir um texto vazio, que naufraga nas águas editoriais, a nota de rodapé do Editor torna tudo um pouco mais complexo: por um lado, corrige e amplia bastante o suposto título em latim, dando-nos também uma versão em português que mantém o latim em disputa tradutória; por outro, informa-nos sobre duas traduções, que servem como exemplares da prática tradutória. Uma delas está em venezuelano, o que já especifica o país como língua (em vez de usar o termo espanhol) e dá ao silêncio da página uma especificidade ainda maior do que a língua em sentido amplo, porém sem maiores comentários. A outra está em volapuque, uma língua artificial criada em 1879 por Martin Schleyer, na Alemanha, e esta recebe a curiosíssima observação de que o tradutor tinha suprimido não só o FINIS, como também o título. Ora, esse ato radical apaga a obra por inteiro e ainda assim entra, nas raias do absurdo, como o gesto mais crítico possível, suplantar o original dando-lhe todo seu silêncio. Ser intruso na tradução a ponto de obliterar o original.
***
Walter Campos de Carvalho nasceu em Uberaba em 1º de novembro de 1916, filho caçula do comerciante Jonas Carvalho e de Floriscena Cunha Campos Carvalho; aos 16 anos de idade, rompeu com a tradição religiosa da família, tornando-se ateu convicto e cada vez mais afim do anarquismo. Teve duas perdas traumáticas de irmãos jovens, Geraldo, em 1936, e Jonas, em 1952, um traço que vai aparecer de modo lateral em livros. Em 1938, formou-se em Direito pela Faculdade do Largo São Francisco, em São Paulo. No início dos anos 1950, mudou-se com Lygia Rosa para o Rio de Janeiro, onde viveu por 25 anos (com um período de mais seis anos em Petrópolis), retornando a São Paulo só no final dos anos 1970; acabou ocupando o cargo comedido de procurador do estado de São Paulo, até se aposentar aos 53 anos. Casou-se ainda jovem com Lygia Rosa de Carvalho, com quem viveu a vida inteira até morrer de ataque cardíaco aos 81 anos, depois de tomar sorvete, numa Sexta-Feira Santa, em 10 de abril de 1998, no Bairro de Higienópolis, em São Paulo, sem deixar filhos; Juva Batella nos conta que apenas quatro pessoas compareceram ao enterro. É a imagem de um típico servidor público que se deu bem na vida, com um bom cargo. É, no entanto, a vida de um dos escritores mais alucinantes que este país já viu.
Em 1941, aos 25 anos, publicou por conta própria uma tiragem de Banda forra, com breves ensaios humorísticos; trata-se de um trabalho interessante, que já guarda muito do seu estilo, porém realmente incipiente em relação ao que viria adiante. Depois disso, passou 13 anos em silêncio até publicar a primeira ficção, Tribo, escrito em 1952 e publicado em 1954 (ano da morte do pai), obra que, apesar de parecer também uma série de ensaios filosóficos, ficções, poemas e notas de diário, bem poderia entrar na categoria híbrida do romance, com uma persona múltipla que por vezes se confunde com o próprio autor da obra. Essas duas obras, depois renegadas por Campos de Carvalho, guardam bem a violência, o humor cáustico, o prazer do nonsense, porém de modo algo comedido, como se o escritor mineiro buscasse com a escrita algum tipo de intervenção propositiva no mundo. O fim da proposição de ideias, ou mesmo da aparência de proposição de ideias, é que parece ser a guinada para os quatro livros que o fizeram conhecido.
A lua vem da Ásia foi publicado em 1956 pela prestigiosa editora José Olympio e logo lido e elogiado por Jorge Amado. Nesse romance, lemos em primeira pessoa a narrativa de um lunático que pouco a pouco percebe que está num hospício e então parte para uma fuga; a partir daí, nós leitores percebemos que os personagens de fora dos muros do asilo em nada mostram maior lucidez; enquanto o narrador segue contando suas experiências em cortes temporais e geográficos, entremeando lembranças disparatadas, numa vertigem que quase desintegra a unidade do romance, de modo que seria possível dizer que a unidade se dá sobretudo na fragmentação do personagem que o narra.
Vaca de nariz sutil sai cinco anos depois, em 1961, pela coleção Vera Cruz, da Civilização Brasileira. Mantém muito da fragmentação narrativa, com verdadeiras viagens subjetivas do personagem-narrador, que muito lembram alguns experimentos da prosa de Hilda Hilst e também de Clarice Lispector; porém, temos um entorno bastante palpável: trata-se do discurso de um veterano de guerra que vive da pensão do estado num albergue, onde divide o quarto com um surdo-mudo e observa a vida sexual alheia por meio de frestas e outros truques, para se masturbar. Obcecado com a morte, marcada pelo cemitério da cidade, ele desenvolve um desejo por Valquíria, a filha do coveiro, que – depois descobriremos – tem algum tipo de retardo mental. A vertigem aqui de ouvir um narrador que se mostra crápula, porém capaz, ao mesmo tempo, de atingir feridas da experiência social e da perda de um sentido coletivo: é um ser que, de tão repugnante, nos mostra a nossa própria repugnância hipócrita, em meio a piadas de um sarcasmo brutal.
A chuva imóvel, publicado em 1963 também pela Civilização Brasileira, aprofunda o mal-estar que domina Vaca de nariz sutil. André –também um personagem-narrador – transita entre o desgosto da vida presente, trabalhando num escritório para o seu cunhado (o marido de Andreia, sua irmã gêmea e objeto de um intenso desejo sexual desde a adolescência) e uma série de lembranças dolorosas, como a morte do irmão ainda muito jovem, a perda do pai e os fracassos da vida. Na segunda parte, André vai fragmentando cada vez mais a narrativa entre memória, reflexão e descrição do presente, enquanto enrola uma corda no pescoço, até chegar, numa espécie de ápice em catábase, a um dos finais mais bonitos, doídos e violentos que se pode ler.
O púcaro búlgaro, último romance, veio à luz em 1964, pela Civilização Brasileira. Também narrado em primeira pessoa, conta a história de um homem, o Autor, que, ao ver um púcaro búlgaro num museu nos Estados Unidos, abandona a esposa e resolve preparar cuidadosamente uma excursão para confirmar a existência do reino da Bulgária ou das Bulgárias, já que não consegue encontrar provas irrefutáveis. Rapidamente, ele se vê acompanhado de um grupo engraçadíssimo, com figuras do porte de Radamés Stepanovicinsky, o bulgarólogo de Quixeramobim, que também desconfia da inexistência do objeto do seu conhecimento, ou de Pernacchio, que defende a tese de que não é a Torre de Pisa que está torta, mas, sim, todo o terreno de Pisa, com as outras edificações, Rosa, a doméstica com quem tem relações (ele e quase todos os outros) etc. São os diálogos mais estapafúrdios e geniais da literatura brasileira, sem sombra de dúvidas, numa narrativa que nunca avança, como que atravancada pelo modelo especulativo reduzido ao absurdo.
Depois disso, Campos de Carvalho publicou só uma breve novela em 1965, em uma antologia Os dez mandamentos, da Editora Civilização Brasileira, era intitulada Espantalho habitado de pássaros, obra que posteriormente também renegou (a ela se soma um conto Os trilhos, de 1960, publicado na revista Senhor); nelas duas, aparentemente vinculadas, vemos um narrador obcecado com a ausência de Desdêmona, sentindo-se forasteiro na própria vida, ora apostando num apito para regular a vida de pedestres sob sua janela, ora em derivas da memória enquanto procura por Desdêmona num bordel. Não viria mais a publicar nada em livro ao longo de mais de 30 anos. Fora algumas entrevista esparsas, apenas durante um período entre 1973 a 1977 contribuiu com o Pasquim, em que publicou várias crônicas, algumas delas reunidas postumamente. Ao fim e ao cabo, fica a sensação de que estamos de fato diante de um dissidente de si e, por isso, também um desertor sereno da literatura.
***

Há outra intrusão impressionante: o fato de que os livros de Campos de Carvalho parecem ter surgido sempre como arroubos: Banda forra não tem data de produção, mas é uma série de ensaios sem fio condutor, o que garante que provavelmente foram escritos de modo independente, sem objetivo de formarem um todo mais coeso do que o estilo e as ideais do autor, ou seja, contendo as suas contradições. Tribo, segundo a orelha, teria sido escrito aos trancos e barrancos e, a julgar pelo fim da obra, entre janeiro e fevereiro de 1952: são 188 páginas em no máximo 60 dias.
A lua vem da Ásia sai apenas dois anos depois de Tribo, e Campos de Carvalho diz que foi escrito ao longo de um ano, na entrevista a Mário Prata e Sérgio Cohn (note-se que ele diz ter começado pelo título para depois escrever sem saber aonde ia). Vaca de nariz sutil, também começado pelo título, apresenta a indicação de que foi escrito entre julho e agosto de 1960, novamente dois meses, porém um capítulo foi publicado no número 121 do Jornal de Letras, em setembro de 1959, o que sugere um período de abandono. A chuva imóvel sai apenas dois anos depois, também sem informações; porém escrito em pouco tempo, a julgar pelo espaço de tempo. E, logo no ano seguinte, em 1964, sai O púcaro búlgaro; sobre ele, na mesma entrevista antes citada, o autor mineiro afirma que foi escrito em apenas 24 dias.
Diante disso, não me parece um exagero arriscar que Campos de Carvalho nunca foi um escritor: aconteceu de escrever seis obras, quatro primas e duas danadas de boas, talvez num tempo total de menos de dois anos de produção efetiva. E dizem por aí que viveu mais de 80, fato que pode ser corroborado pelas datas de nascimento e morte. O que prova que o arroubo é uma arte, primado absoluto da técnica e da organização da escrita.
Ele mesmo disse que “não sabia que era escritor e era”. Noutro momento, em uma crônica, afirmou: “Tenho uma facilidade enorme de escrever e por isso mesmo é que tenho tão poucos livros publicados. Não há nada pior, para qualquer artista, do que a facilidade”. Então, porque é fácil e farto, é que resulta pouco, sem nada de único ou unívoco. Quantos egos alterados em tão pouco tempo. Alguém poderia se perguntar o número de intrusos que ali cabiam, nos muitos anos sem escrita, porém é difícil ter qualquer certeza. Em entrevista de 1969, ele anunciava um livro futuro com o título de Maquinação sem máquina, especulação do espelho, que posteriormente seria repetido com títulos variados como Maquinação da máquina, especulação sem espelho; bem como outros, chamados Maravilha no país das Alices, O vaso noturno, Concerto no ovo, Mosaico sem Moisés, isso até o fim da vida, sem podermos ter certeza se é o mesmo livro, ou vários diversos, ou mera mentira: intrusão atrás de intrusão até onde não há traço de escrita. E nem nisso podemos acreditar, porque nos anos 1990 lá viria ele dizer:
“Eu fiquei 30 anos sem escrever, e às vezes me pergunto o porquê disso. Escrever é o que me alimenta agora. Eu levei muito tempo para me reconhecer capaz de escrever novamente. Mas isso O púcaro búlgaro dá a entender, né? O Jorge Amado, quando o Púcaro saiu, também me telefonou e disse que depois dele eu jamais conseguiria escrever outra coisa. Ele errou, porque estou escrevendo novamente.”
Victor da Rosa já tinha percebido que Campos de Carvalho fazia uma performance à parte nas entrevistas, incorporando personas, criando causos, ou mentindo deslavadamente no melhor do self-made man em self-fake-news; prática que Noel Arantes chama de “pseudobiografia teatralizada”. O maior não escritor em seu período de escrita conseguiu depois escrever tantos livros sem fazer nenhum. Ao fim, porque voltou a escrever, não publicou mais nada.
***
É tentador afirmar peremptoriamente que o tema maior de toda obra de Campos de Carvalho é a entropia, expressa na própria escrita: os quatro romances fazem um crescendo de complexidade e delírio que, demandando mais e mais da atenção do leitor, que a essa altura começa a fraquejar, resulta em quasi-dissolução. Isso se dá tanto de livro a livro – que começa com um mote razoavelmente claro, mas que vai sendo atravessado por variantes, derivas, excursos, que o complexificam – quanto no movimento da obra como um todo, sobretudo se considerarmos o quarteto dos romances autenticados, porque algo que ali se repete e nos força a buscar similaridades imediatas, que vão sendo negadas, demolidas ou instauradas de modo distorcido. Só mesmo um novo texto, ensaio entrópico, para desenvolver isso, por exemplo, como cada personagem está ele próprio em entropia contínua e é um agente catalisador da entropia à sua volta, desregulando o mundo das outras personagens, introjetando-se onde não é chamado, alterando percursos por onde quer que passe, nem que seja imóvel.
***
Nada mais justo nesta série de intrusões de um mesmo intruso desdobrado e alterado do que fazer sua sétima e derradeira estreia em livro cerca de oito anos depois de morto e devidamente enterrado. Em 2006, Cláudio Figueiredo organizou o que viria a ser o último livro de Campos de Carvalho, Cartas de viagem e outras crônicas, com alguns dos textos publicados no Pasquim ao longo de 1973–4, porém escritos a partir de 1972. Em duas séries, As cartas do Campos de Carvalho e Os anais do Campos de Carvalho, que resultaram em mais de 50 escritos. É então uma estreia via repetição, claro, com um jet leg de 34 anos bem-corridos, e como mais seria? Por isso é tão fundamental na série de alteridades já comentada. Vejamos o primeiro texto, que faz parte de uma série de cartas de viagem que formam uma pequena narrativa sem ordem cronológica:
“Meu caro.
Se você pretende viajar de navio para a Europa, compre hoje mesmo sua passagem de avião e agarre-se a ela com unhas e dentes. O avião ainda é o meio de transporte mais rápido, sobretudo se está caindo –o que maior conforto oferece, sobretudo à família.”
Está tudo ali: o absurdo de uma carta sem nome de destinatário, que mais parece ser o próprio autor, porém devidamente assinada com “Campos de Carvalho”, sem o “Walter” como alter ego do ego; o humor delirante de reservar um avião para melhor viajar de navio; a eficiência veloz de uma boa queda aérea, com a emersão da morte. Há, porém, um corte preciso: se em toda a obra anterior Campos de Carvalho delirava sobre o mundo, deslocando a realidade de todo lastro cabível (e daí o rótulo um tanto equivocado de surrealista), aqui ele faz o relato de uma experiência pessoal, dando detalhes de sua viagem à Europa, em 1971, passando por Lisboa, Londres e Paris – no caso, algumas fotos dos passeios aparecem na Obra reunida, para confirmar as datas. É o relato biográfico com o recorte do olhar de sua poética, corte e laço, laço como corte. A segunda carta, inclusive, nos dá um pequeno petardo sobre a prática do seu estilo requintado e nada requentado, desta vez destinada a uma “Minha cara”. O autor lamenta o encontro com o português de Portugal, que o desloca de sua língua materna:
“E justamente agora que pretendo voltar a escrever meus livros e mais preciso de meu instrumento, a palavra – a palavra exata e única, sem sinonímia, como você tanto quanto eu sabe que existe e tem que ser encontrada. Somos uns pescadores de pérolas, bem-entendido – e, agora que as pérolas andam tão desvalorizadas pelos que as fabricam em série e sem amor, há que descobri-las de novo e cada dia redescobri-las, como se cada palavra renascesse conosco e nunca ninguém a houvesse usado jamais.”
O tom quase lírico dessa metalinguagem, mais do que explicitar apenas a busca do mot juste de gosto mallarmaico (o “lance de dados” é mencionado pouco depois), sugere pelo menos duas críticas certeiras: de um lado, a produção industrial da escrita, que passa a mecanizar a experiência da linguagem como objeto repetitivo e esvaziado para consumo; por outro, a fertilidade da palavra como renascimento em si mesma, sempre repetida e renovada. É o olhar do louco, intruso no mundo que o cerca, que dá à palavra sua nova vida, porque nele, no intruso, ela ressurge deslocada, como se nunca antes usada, uma vez nunca antes usada desse jeito. É esse o modo de ser intruso na própria obra: agora usando as palavras deslocadas pra descrever um mundo geograficamente partilhado, sem usar da especulação sem espelho da ficção. No entanto, ali onde é mais biográfico e objetivo temos ainda trechos que parecem vir mesmo de um romance, como esta:
“Na véspera de vir para Londres comprei um livrinho desses de bolso cujo título me pareceu sugestivo: Comece a falar inglês hoje mesmo. De fato, já no dia seguinte eu falava o inglês correntemente, só que os ingleses aqui pareciam não entender muito bem, como ainda continuam não entendo: em compensação digas que eu os estou entendendo ainda muito menos.”
Uma passagem dessa parece A lua vem da Ásia. E talvez essas crônicas de viagem tenham mesmo um aspecto de retorno. Por outro lado, quando chegamos à segunda parte do livro, uma seleta de Os anais de Campos de Carvalho, tudo entra em entropia nova: o agregado vai perdendo coerência, pois estamos diante de pequenos ensaios, pseudoautobiografias, crônicas do Rio e de Petrópolis, reflexões literárias etc., com uma variação bem grande de tom e abordagem. A fama póstuma as reuniu quando eram mesmo esparsas, e esse desencontro, essa série de cortes, acaba por parecer um desejo do autor, que morto ainda opera cortes na continuidade. O passo final seria mesmo ver a oitava estreia em livro numa coleção de entrevistas e outros textos: ali escutar mentalmente a sua voz que mente sobre si, para melhor atingir o entrevistador, performando fora dos textos. Essa promessa foi anunciada com o título Espantalho inquieto, coletânea a ser organizada por Geraldo Noel Arantes com entrevistas, resenhas, crônicas, poemas (três coleções nunca publicadas!) e outros textos dispersos, porém ainda está inédita.
***

“Os fogos de artifício não impressionam a quem já os viu sem nenhum artifício, com tanto cogumelo atômico não é possível achar mais graças nestas pirotecnias, ou bem somos infantes como eles querem ou como gostaríamos de ser.”
Assim fala o narrador de Vaca de nariz sutil, num só gesto revelando seu tédio e desgosto geral com a vida (donde o fascínio com o cemitério/morte e o sexo/vida dos outros) e a inversão do cogumelo atômico, por um átimo, em entretenimento definitivo, aniquilando não só entretenimentos como os fogos de artifício, agora banalizados, como o próprio mundo, ou mundos. É uma perda violenta de qualquer lastro deslocar os paradigmas da aniquilação para o entretenimento, e vice-versa; no entanto, a possiblidade parece sempre abertíssima.
Nos quatro romances de Campos de Carvalho, todos os personagens principais perderam o lastro que os conecta a uma coletividade capaz de partilhar uma experiência de realidade: o louco de A lua vem da Ásia muda como bem quer a geografia e a história, a cada instante, seja no passado ou no presente da narrativa; o veterano de Vaca de nariz sutil decide os limites da sua ética a cada instante e pode também variar sobre seu entendimento entre o que é Valquíria, como uma menina, uma jovem ou uma mulher com problemas mentais; André, em A chuva imóvel, pode se fundir com Andreia, replicar o irmão morto, tornar-se cavalo de si mesmo (uma espécie de autocentauro), e assim vai esfacelando os vínculos possíveis do mundo; por fim, o Autor em O púcaro búlgaro se cerca de um bando alucinado que o tempo inteiro hesita entre existência e inexistência da Bulgária, mas também de si e do mundo, formando uma realidade que só é partilhável na medida em que é indecidível.
Nessa série de aparentes inadequações à realidade, Campos de Carvalho desvela o mecanismo mais profundo da perda do lastro. Como é de conhecimento na economia, o lastro, grosso modo, garantia que um país só poderia imprimir dinheiro equivalente à sua produção de riquezas, ou ao montante de riquezas guardado, muito tempo estimado em padrão-ouro, ou seja, em um lastro garantido de ouro para bancar o papel-moeda. A queda do lastro tem um vínculo profundo com a decisão dos Estados Unidos, em 1971, de transformar o dólar em valor fiduciário, sem qualquer base num estoque de ouro do país, portanto levando certo fetiche do dinheiro ao limite: a partir de então, o papel-moeda vale o que ele vale e compra, porque passa a ser o comprador definitivo, algo que ainda se radicaliza mais com os números abstratos das contas bancárias atuais; porém, ao mesmo tempo, isso desvela o fetiche do ouro, que era o lastro de base física que instaurava um objeto como o comprador definitivo, como se imperecível e valorável em si mesmo.
Campos de Carvalho, sem se dedicar a qualquer discussão sobre economia mundial, vinha desde os anos 1950 anunciando o fim do lastro do real como modelo de alienação do mundo, mas também como revelação do nosso mundo como já-alienado no fetiche por seu suposto lastro. O dentro e o fora do hospício. O fora é o dentro. “No princípio era o Caos, e está sendo o Caos”, diz André em A chuva imóvel, e assim de um só golpe assinamos e assassinamos o mundo.
***
Ao fim de um ensaio fragmentário como este, penso que posso me dar o luxo de voltar ao começo, a bem dizer, à estreia, quando se pode chamá-la de “propriamente dita”. Pois bem: com seus 25 anos, em 1941 – seguindo o modelo “às próprias custas S.A.”, como cunhou certeiro Itamar Assumpção –, Walter Campos de Carvalho lançou seu primeiro livro, Banda forra, um voluminho repleto de gralhas, que ele próprio fez depois questão de renegar, proibindo reedições. De fato, é um livro, por assim dizer, mais sisudo, comprometido com mudar o mundo a partir de ensaios de objetividade e incisão, e não pela intrusão do desvario, do rompimento das subjetividades. No entanto, boa parte do estilo lá está, como, por exemplo, o uso das palavras como sabores múltiplos em colisão e o gosto pelo contraditório, beirando o absurdo. Aliás, mesmo que seja falsa estreia, posto que verdadeira, ela bem poderia angariar aficionados, desde o prefácio, que merece uma citação mais longa:
“Banda Forra dizia-se, ao tempo de nossos avós, daquele escravo que, tendo juntado pequeno pecúlio, ou espórtula, conseguia com ele comprar ao seu senhor certo quinhão de liberdade, podendo então trabalhar para si aos domingos. De posse desse quase nada de independência, cultivava seu roçado de dez a vinte palmos de comprido, arranjava pecúlio novo e maior para conquista de muito feliz e contente vida. Labutava como um mouro nos seis dias da semana para abarrotar ainda mais as arcas prenhes do patrão, mas dava-se por compensado de todas as dores e desgraças do mundo quando, ao fim, podia dispor de algumas poucas horas para cuidar apenas de sua existência.
Estas impressões foram, como no caso do escravo nosso ascendente, rabiscadas um tanto quanto às pressas, nos instantes de ócio que ao autor deixavam, cada semana, o trabalho e as obrigações caseiras, que são muitas. Aburguesado por injunção de circunstâncias terrenas e preso por mil amarras ao tronco da necessidade e da condição de pai de filhos, o autor vê nestes escritos os vagares de um ou outro fim de semana, algumas madrugadas roubadas ao sono justo do patriarca, o esforço de que enfim ainda se lhe sentia capaz o cérebro, depois de fielmente ter cumprido o seu fado de animal escravizado. Constituem estas impressões, em última análise, aquele “espojeiro” que o negro de Banda Forra lograva, ao cabo de anos, formar em torno de sua choça e que era, na realidade, o único fruto benquisto do seu muito esforço.”
Já está tudo ali: a identificação com os massacrados da sociedade (em seu caso, mesmo “branco” para os padrões brasileiros, busca sua ascendência no negro forro do Império); a revolta contra o aburguesamento que escraviza a alma e experiência; a ironia ferina; e a força de labutar na literatura para além do ganha-pão como um modo de alforria. Seriam anos para ele reorganizar seu discurso de projeto quase-pré-mordenista até que chegasse às raias do nonsense a ponto de botar na boca lunática do bulgarólogo Radamés Stepanovicinsky o genial adágio em dístico “SÓ HÁ UMA VERDADE ABSOLUTA: TODO RACISTA É UM FILHO DA PUTA”, assim em maiúsculas, anotada pelo Autor um dia antes de ser dita por Radamés, ainda por cima com uma data de dezembro que seria talvez em outubro.
Adágio escrito perto do fim da obra, muito antes de ela terminar, é claro. Pairando agora sobre este texto que escrevo poucas horas depois de um policial norte-americano branco matar o negro George Floyd com o joelho em seu pescoço por minutos, até que tudo cesse; pairando agora sobre este texto que escrevo poucos dias depois de o menino negro João Pedro Mattos Pinto, de apenas 14 anos de idade, ser morto a tiros pela polícia militar brasileira dentro sua própria casa. Antes, como agora, loucura de Radamés e de Walter. Loucura da pura verdade. Retruca o Walter ego: “Eu nunca pensei em mensagem ou alternativa”.![]()
GUILHERME GONTIJO FLORES, poeta, tradutor e professor na UFPR. Autor de livros como carvão : : capim e História de Joia. Publicou traduções de Robert Burton, Propércio, Milton, Safo, entre outros. É coeditor da revista blog escamandro e membro da Pecora Loca.
KARINA FREITAS, designer, ilustradora e especialista em Projetos Digitais.
* Gostaria de agradecer a Marcelo Ariel e Nícollas Ranieri, que conseguiram me apresentar versões digitais de Banda forra e Tribo, respectivamente.
Publicidade




