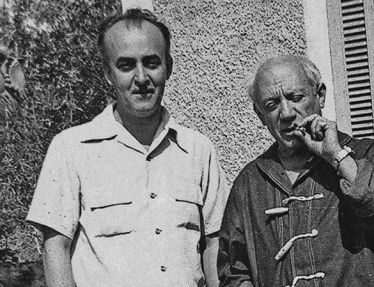Mulheres diante de si mesmas
Em 'Ana de Amsterdam' e 'Azul e dura', Ana Cássia Rebelo e Beatriz Bracher expõem personagens que olham para dentro com melancolia
TEXTO Marina Moura
01 de Julho de 2016

"Ao decidir escrever, uma mulher carrega consigo todas as dificuldades que o gênero lhe impõe e, que em alguma medida, impedem ou adiam-lhe a escrita. "
Ilustração Hallina Beltrão
[conteúdo da ed. 187 | julho de 2016]
A supremacia do ponto de vista masculino faz-se presente tanto nos espaços físicos quanto nas estruturas mentais, e não poderia deixar de produzir ecos no cenário da literatura contemporânea. Ao abrir o livro Ana de Amsterdam (Biblioteca Azul, 2016), deparamo-nos com um prefácio, assinado pelo crítico português João Pedro George, incomum aos textos de apresentação de obras escritas por homens. “Assim que a casa sossega, ultrapassada a barreira dos afazeres domésticos, livre dos protestos e da tirania dos filhos, Ana Cássia Rebelo senta-se em frente ao computador e escreve”, ele nos informa. O trecho é revelador, porque dá a dimensão do que trata a escrita de Ana Cássia (autora) e de Ana Clara (narradora-personagem): ao decidir escrever, uma mulher carrega consigo todas as dificuldades que o gênero lhe impõe e, que em alguma medida, impedem ou adiam-lhe a escrita.
Dito isso, vamos às apresentações. Ana Cássia Rebelo nasceu no ano de 1972, em Moçambique, e mudou-se para Portugal quando tinha cinco anos. Jurista e funcionária pública, é divorciada e mãe de três filhos. Desde 2006 mantém um blog, cujo título Ana de Amsterdam (http://ana-de-amsterdam.blogspot.com.br/) refere-se à música de Chico Buarque, da qual lhe atrai especialmente o verso Sou Ana do oriente, ocidente, acidente, gelada, sendo ela mesma filha de uma alentejana e um goense. Em 2015, publicou em seu país um livro homônimo, que reúne postagens do blog no formato de diário íntimo ficcionalizado. A narrativa em primeira pessoa é feita pela personagem Ana Clara – advogada, esposa, mãe –, que declara, em tom de ironia: “Só conheço pessoas realizadas, razoáveis, sãs. A minha irmã tem as contas em dia, a nova secretária nunca come fruta sem ser lavada e, ontem, uma criança censurou-me por atravessar a rua fora da passadeira”.
O relato confessional de Ana Clara é avesso aos papéis anteriormente identificados com o gênero feminino e se constrói a partir da problematização do que supostamente está relacionado à realização pessoal das mulheres. Assim, está posta a geografia de uma mulher com o olhar atento às suas diversas maneiras de ser e estar no mundo – a maternidade, a sexualidade e o corpo que experimenta o envelhecimento são dimensões frequentemente analisadas e questionadas em Ana de Amsterdam. Outro fator que permeia todo o discurso da narradora e funciona como mediador da realidade é a depressão, manifestada em sentimentos que saltam da melancolia ao desespero. “Às vezes, tenho a sensação de que dentro do meu corpo habita um bicho voraz que se alimenta da minha tristeza. Uma espécie de tumor que cresce à medida que os dias passam iguais”, escreve.
No prefácio, Pedro Jorge faz questão de frisar que, em Ana Cássia, a escrita não é uma extensão de episódios depressivos, mas uma espécie de sublimação deles. Aqui, narrar “não substitui o Xanax nem o Cipralex, mas ajuda a esquecer, por instantes, a dor, a reclusão doméstica, a vitalidade diminuída”. O interesse da personagem no discurso que constrói não passa pelo simples lamento ou desabafo, nem configura-se como mero transbordamento de emoções. A impressão que temos é de que, para a narradora, a literatura funciona como um projeto de compreensão da própria vida. Nesse sentido, é pertinente, aliás, a observação feita por Jacqueline Rose, biógrafa da poeta estadunidense Sylvia Plath (1932–1963) e que também pode se aplicar à análise dos escritos de Ana: “Não estou interessada em saber se ela era patológica ou não (…) Só podemos fazer afirmações do tipo se estivermos seguros de nossa própria sanidade, o que considero uma posição moralmente inaceitável”.
MATERNIDADE
Se, por um lado, rechaça o instinto materno como única via possível para a relação com os filhos, Ana Clara admite “um amor táctil, quase obsceno” a um dos pequenos, João, e teme que, quando ele crescer, “seu corpo deixará de ser o meu corpo”. Há, portanto, um entendimento de que o sentimento pelas crianças tem muito de físico, e em diversas passagens ocorre a diluição dos limites do que seria a identidade dela e a dos filhos. Em outra situação, a narradora se põe nua em frente ao espelho e não gosta do que vê. “Depois de alguma hesitação, resolvi enfrentá-la. Afinal, pensei, foi por ali, por tal abertura, que os meus filhos abraçaram o mundo. Foi ela, a minha vagina, que se dilatou e lhes franqueou a chegada. Foi ela que mos trouxe. (…) Portanto, nem que fosse pelos meus filhos, eu deveria enfrentar a minha vagina.” O momento, extremamente íntimo, é associado por ela aos pequenos, que com sua presença física deveriam diluir o mal-estar que experimenta com o próprio corpo. A passagem é mais um exemplo de que há um tipo de cumplicidade de Ana Clara para com os filhos que não pode ser compreendida de maneira lógica, mas através das marcas e da história de seu corpo.
No romance, ainda há espaço para os fracassos e incômodos da maternidade. O mesmo corpo, com frequência associado e circunscrito à esfera maternal, dá sinais de esgotamento dessa atribuição. “Detesto estar grávida. Sempre detestei. Perco o controle do meu corpo. Passo a ser um mero invólucro. Uma cabaça. Um casulo.” Um dos ápices de sinceridade da autora é quando confessa: “Amo os meus filhos. Com fúria, com certo desespero. Quero-lhes bem. Mas não me basta o que têm para me oferecer”. A força de Ana de Amsterdam encontra-se justamente nessa consciência de que as coisas, as pessoas e as posições ocupadas pela personagem não são capazes de lhe proporcionar plenitude enquanto indivíduo. “Não fora o desejo e a insatisfação, e seria uma mulher moderadamente feliz”, afirma.
AZUL E DURA
Tanto a escrita fragmentada quanto o mote narrativo de Ana de Amsterdam assemelham-se ao livro de estreia da paulistana Beatriz Bracher, Azul e dura (Editora 34, 2010). Na obra, Mariana, narradora de meia-idade, organiza antigas anotações e se propõe a escrever um relato que abarque as várias faces de sua vida – dona de casa, esposa, mãe. “Tenho quarenta e dois anos e dois filhos. Tomás tem dezessete, Gabriela tem quinze”, apresenta-se. Como é o caso de Ana Clara, a história de Mariana é também permeada pela tristeza provocada pela depressão. A preocupação de não tornar a narrativa refém do aspecto depressivo de sua personalidade é aqui evidente: “É essencial que o que vai ser escrito não seja fruto da depressão nem do antidepressivo. Ambos geram sentimentos banais. Não são pensamentos, a doença está no comando”.
Em dado momento, Mariana diz que “lembrar dói”. A leitura de Azul e dura é algo como um relicário aflito diante da extrema dificuldade de ser e “estar dentro do que é do que sempre foi esperado”. E mais uma vez a maternidade é questionada em sua impossibilidade de preencher todas as lacunas femininas: “Ser parte, ter uma função clara, igual, ter gestos, pensamentos e preocupações iguais, iguaizinhas a todas as mães na sala de espera do pediatra, na feira com o carrinho de bebê, sorrindo orgulhosa dos elogios ao filhote”. Ainda assim, quando afirma continuar “a história das mulheres da minha família”, a protagonista coloca-se como corpo indissociável dos seus rebentos. Diante do nascimento do filho mais velho, Mariana compreende que “Tomás iria crescer exatamente da mesma maneira que os bebês crescem e não era eu que estava no mundo, Tom e eu éramos um mundo, imenso e protegido, igual a todos os outros criados antes e depois de mim”. Percebemos, desse modo, que Mariana e Ana Clara exploram as arestas da maternidade em todas as suas dimensões.
Sobre a estrutura do romance moderno, a filósofa alemã Hannah Arendt (1906–1975) afirma que “muito embora as histórias sejam resultado inevitável da ação, não é o ator, e sim o narrador que percebe e ‘faz’ a história”. A força da narrativa, então, está em quem e como conta, e não exatamente no teor do relato. Ora, que as duas narradoras sejam também protagonistas dos livros em questão já nos dá uma ideia do caminho escolhido pelas autoras. Não são textos permeados por uma série de acontecimentos sucedendo-se a outros. São fragmentos de cotidiano, brigas, afetos, trabalhos, sonhos e impressões que buscam dar conta do sentido da experiência de cada uma, revelando as entranhas das personagens.
A Ana Clara e Mariana interessa reinventar a vida de maneira viável à narrativa que constroem. Não é exatamente o encontro com o outro que elas esperam para desabafar, mas o encontro com o discurso literário, que em ambos os casos possui um valor catártico, voltando-se para as protagonistas no sentido de apreender, aceitar, entender o próprio destino. Como se a identidade de cada uma só pudesse ser finalmente reconhecida através do exercício da literatura, para compor um retrato de si que nunca viram. “Não há dúvida, apenas porque somos de algum lugar é que somos alguém”, afirma a personagem de Azul e dura. E é sobretudo no espaço narrativo que as duas se encontram consigo. Escrever, para elas, portanto, é uma maneira de se saberem vivas.![]()
Publicidade